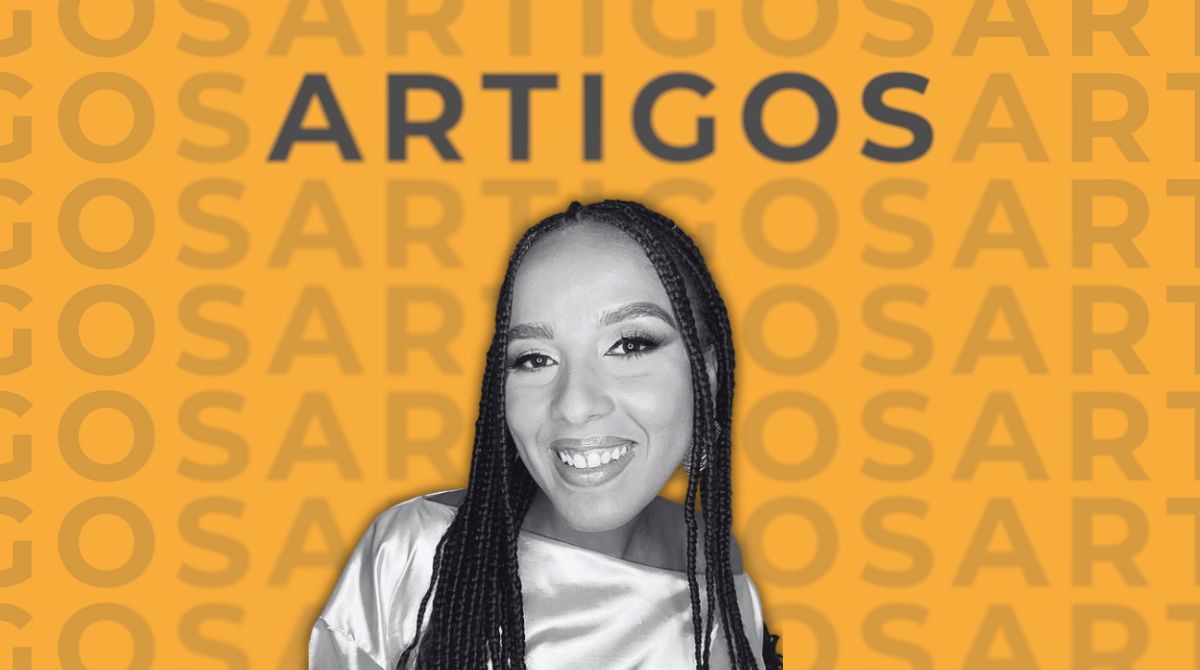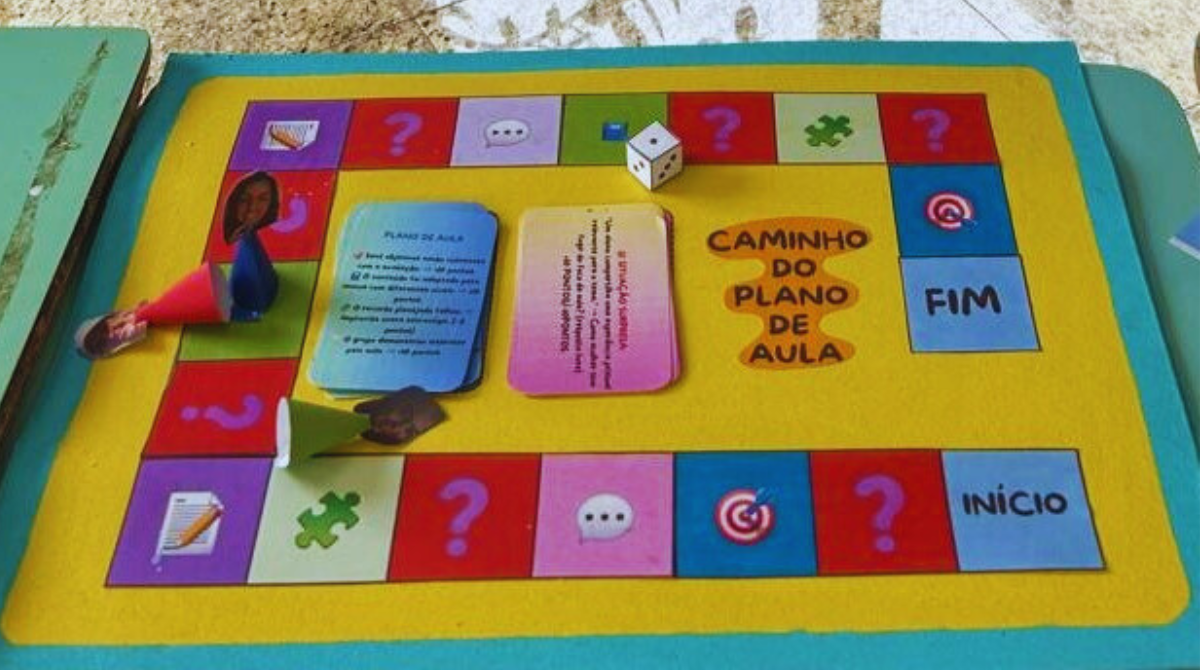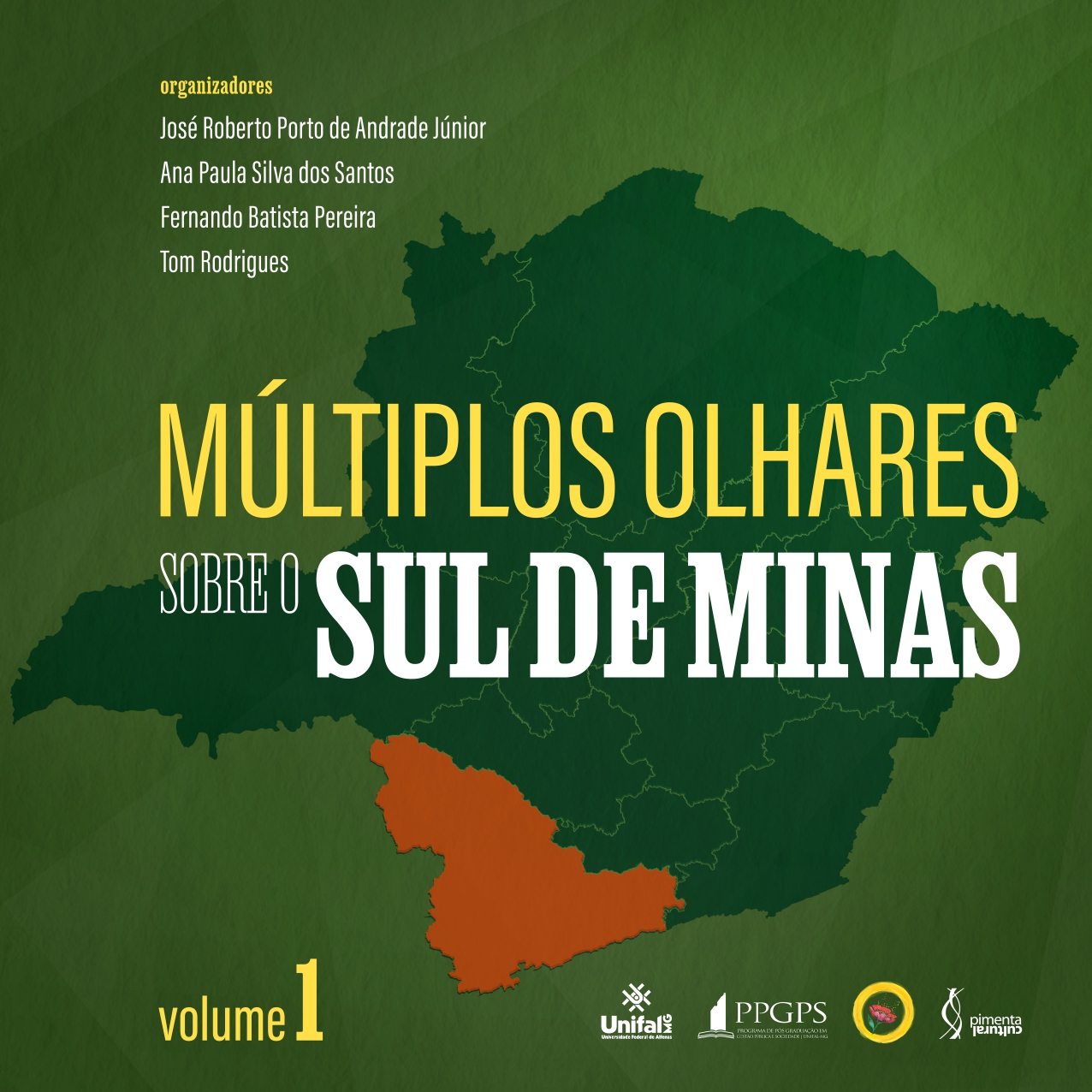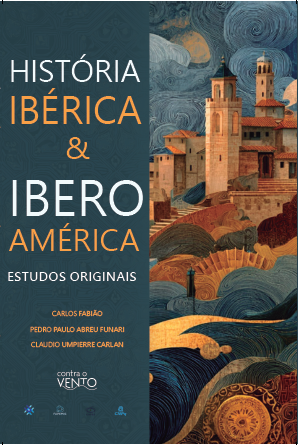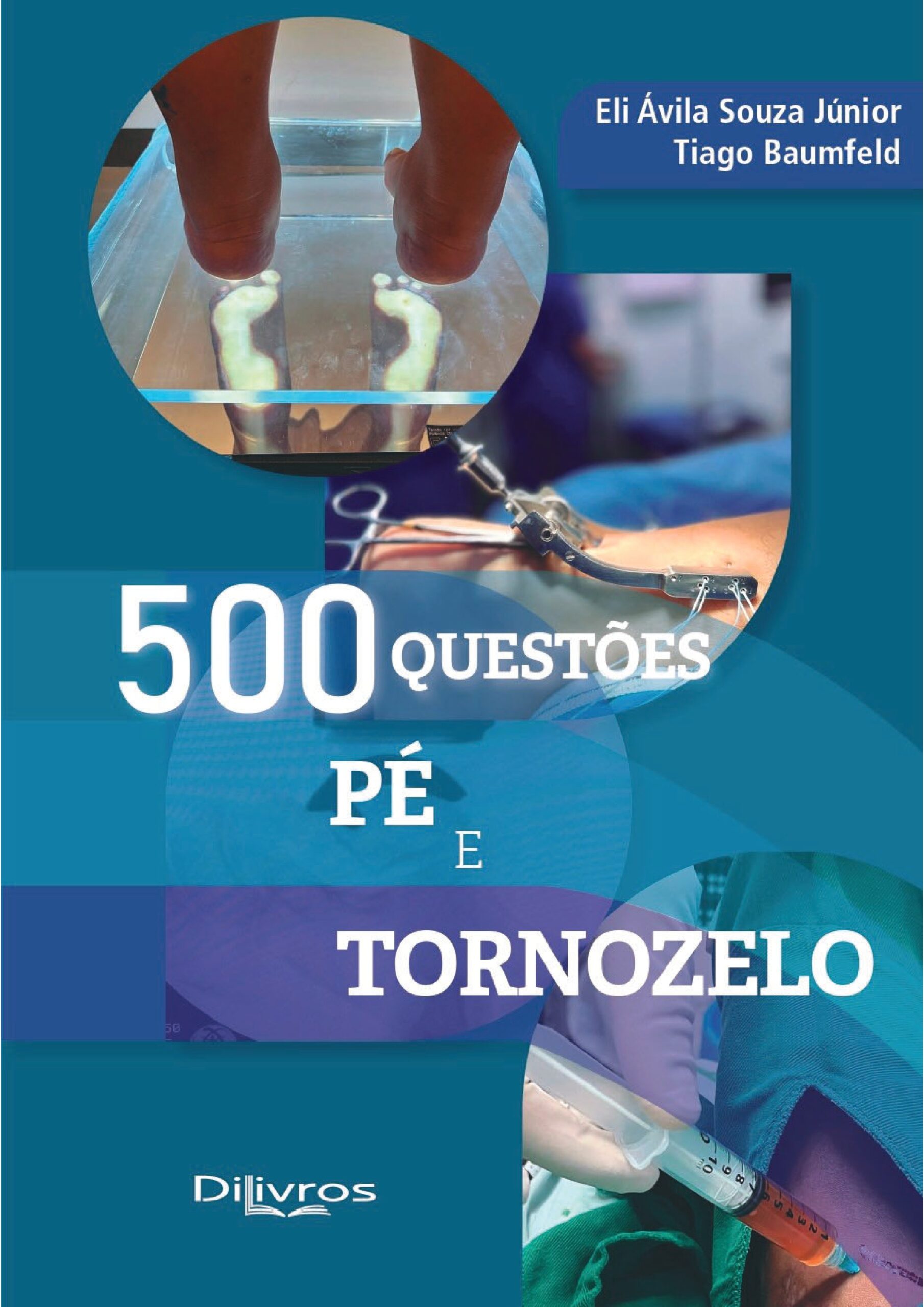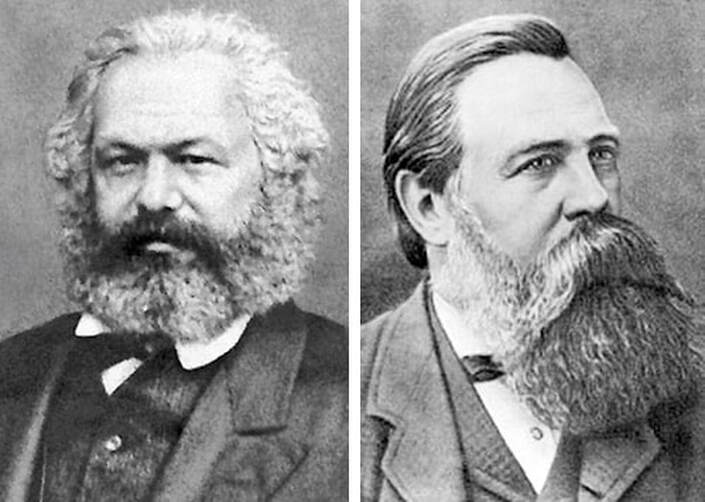
Entre os dias 3 e 6 de dezembro próximos, na UNIFAL-MG – Sede Alfenas, o GPHiTeS – Grupo de Pesquisa Filosofia, História e Teoria Social realiza, com apoio da Fapemig – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais e com financiamento do edital PAEV – Programa de Apoio a Eventos da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unifal-MG, o XV EPMARX – Encontro de Grupos de Estudos e Pesquisas Marxistas.
O que anima a reunião desses grupos de estudos e pesquisas é a leitura crítica e atualizada de Marx. Essa iniciativa é, por si, uma atividade científica indispensável, pois não se trata de um exercício de arqueologia intelectual, mas de um esforço compartilhado de pesquisa que ofereça as bases fundamentais para levar adiante a necessária superação do capitalismo contemporâneo, antes que esse modo de produção acabe com o planeta.
A mobilização em torno da obra de Marx não é, como acusam seus detratores, a reunião de um culto dogmático, mas uma (re)leitura crítica que combina reconstrução hermenêutica dos textos clássicos com a confrontação empírica dos processos sociais atuais, de modo a testar, refinar e, quando necessário, rearticular categorias analíticas que emergem do metabolismo do capital.
Marx voltou à moda após as crises de 2008 e os movimentos “Occupy”, a partir de 2011. Agora, com as guerras no Oriente Médio e na Europa, uma nova onda de leitores de Marx começa a surgir. Em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, renovaram-se edições de sua obra de maior repercussão: O Capital. Na academia, pautam-se estudos de textos, até então, inéditos em face das novas publicações da Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA), a edição histórico-crítica das obras completas, manuscritos e correspondências de Marx e Engels.
Ainda que os opositores da obra de Marx tenham se apressado em decretar, várias vezes, sua morte e inutilidade teórica, é fato que um clássico nunca morre. A dimensão teórica das teses centrais de Marx permanece fecunda porque ninguém, antes ou depois dele, mergulhou tão a fundo na compreensão da totalidade social engendrada pelo domínio do capital. Sem articular categorias centrais como relações de produção, forma-valor, mais-valia e processo de acumulação na compreensão histórica, dialética e materialista, qualquer análise se limita a unilateralismos que, ao fim e ao cabo, servem para justificar o que aí está. Daí o domínio quase universal das teses conservadoras e reacionárias que gritam todo os dias: ‘o capitalismo é ruim, mas o socialismo é pior’ – exatamente porque não podem justificar pelas próprias virtudes o sistema que defendem.
A novidade da obra de um clássico do século XIX como Marx é justamente a articulação dessas categorias em constante mudança conforme se desenvolvem as contradições internas do modo de produção que pretende compreender. Apreender o modo como Marx elaborou e aplicou, à realidade europeia do século XIX, suas categorias centrais nos torna aptos a ver que o capital não é uma coisa que se guarda no banco. É uma relação social de poder que determina quem é o trabalhador e quem é o dono dos meios de produção. Ambos só existem nessa determinada forma de relação social de produção dos meios necessários à manutenção da vida ou, quem sabe, à sua extinção, como parece ser a tendência de nossa época. Assim, quando tentamos compreender a concentração de riqueza e de propriedade em tão poucas mãos, as desigualdades sociais e regionais, o monopólio de mercados, a financeirização de todas as relações sociais, a flexibilização da legislação trabalhista, a globalização das cadeias produtivas e as guerras por petróleo e territórios, a obra de Marx revela-se absolutamente indispensável.
A análise que Marx empreende sobre o misticismo e o poder sobrenatural da mercadoria que, no capitalismo, tornou-se um fetiche, assim como o rigor com que identifica, no estranhamento do trabalhador com seus meios de vida, a alienação social do trabalho, oferece um recurso epistemológico para desvelar as formas ideológicas de ocultamento das relações sociais reais de exploração. Ao tornar visíveis as mediações por meio das quais as relações sociais de poder se apresentam como relações entre coisas, essa crítica facilita a identificação e a denúncia de narrativas legitimadoras da desigualdade, sejam elas a meritocracia, a suposta neutralidade do mercado, da eficiência técnica ou outras explicações unilaterais que, por não considerarem a dinâmica contraditória em que se movem as relações sociais de produção, tendem a legitimar o status quo como se fosse uma condição natural, independentemente de qualquer ação humana. Aliás, as críticas de estudiosos marxistas demonstraram que os eventos climáticos extremos classificados pela imprensa e por especialistas como “naturais” correspondem, na verdade, a fenômenos característicos do antropoceno, sobretudo resultantes das práticas e dinâmicas do modo de vida capitalista.
Quem, na pesquisa social, não se interessa pela teoria do valor-trabalho e da mais-valia não será capaz de compreender adequadamente a apropriação do trabalho vivo pelo capital sob novas conformações: trabalho em plataformas digitais, trabalho reprodutivo não remunerado, práticas de terceirização e formas variadas de precarização. Aquelas categorias exigem atualização metodológica e empírica, ao que vários estudos se dedicam, mas não perdem sua capacidade de sondar a continuidade da exploração camuflada sob mutações legislativas e tecnológicas.
Para as questões centrais do século XXI, sem dúvida, a reflexão marxiana sobre as crises cíclicas do capital é o instrumento conceitual mais relevante. A identificação, no nascedouro do capitalismo no século XIX, de seu defeito congênito revela, como a história dos últimos 200 anos tem provado e comprovado, que as contradições intrínsecas ao modo de produção capitalista não são anomalias conjunturais solucionáveis administrativamente por políticas públicas ou novas técnicas de produção.
Ler Marx também obriga atenção à historicidade e à força da ação coletiva. Interpretado de modo atento, o marxismo não postula um determinismo inexorável; ao contrário, enfatiza o caráter prático da transformação social e a centralidade da organização coletiva: sindicatos, cooperativas, conselhos, universidades e outros arranjos autogeridos aparecem como formas concretas de gestão do comum que podem transformar conjunturas de crise e mudança social em espaços capazes de substituir a democracia liberal formal por uma democratização social e econômica substantiva dos meios de produção. A questão da propriedade comum dos meios de produção e da distribuição equitativa da riqueza não é uma demanda meramente normativa ou legal. É uma necessidade histórica que a atual geração terá de responder: quais mecanismos institucionais, que formas organizativas e que arranjos de poder possibilitam que a riqueza socialmente produzida seja gerida e redistribuída em proveito de todos e todas e em favor da sustentabilidade do planeta?
As novas e renovadas leituras de Marx convocam diálogos necessários com correntes teóricas que ampliam e problematizam sua matriz metodológica, incorporando evidências empíricas novas e refinando instrumentos conceituais mais adequados aos problemas do século XXI. É preciso (re)ler Marx, antes de tudo para entendê-lo, mas, sobretudo, como ele mesmo almejava, para emancipar a humanidade.

Francisco Xarão professor de Filosofia do Instituto de Ciências Humanas e Letras (ICHL) da UNIFAL-MG. É graduado em Filosofia, com mestrado e doutorado em Filosofia. É líder do grupo de pesquisa Filosofia, História e Teoria Social. Atualmente exerce o cargo de pró-reitor de Extensão da UNIFAL-MG. Tem experiência na área de Filosofia, com ênfase em Filosofia Política, Ética e Filosofia da Ciência. Atua principalmente nos seguintes temas: política, educação, direitos humanos e metodologia das ciências. É coordenador do XV EPMARX. Currículo lattes.