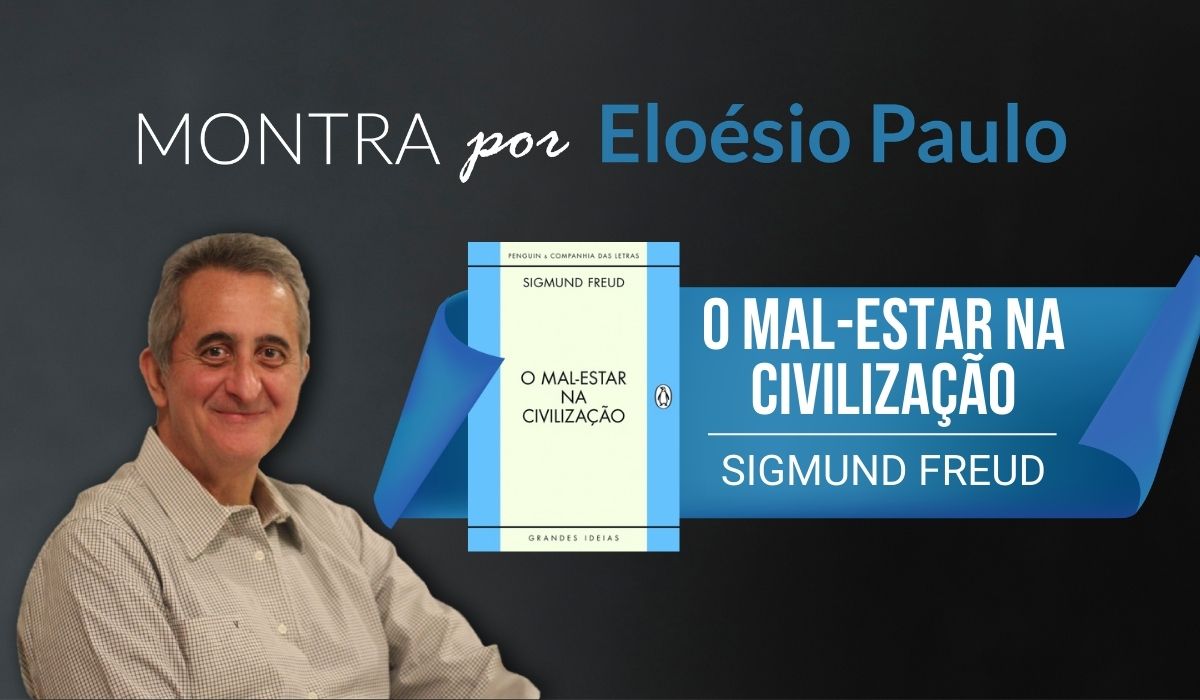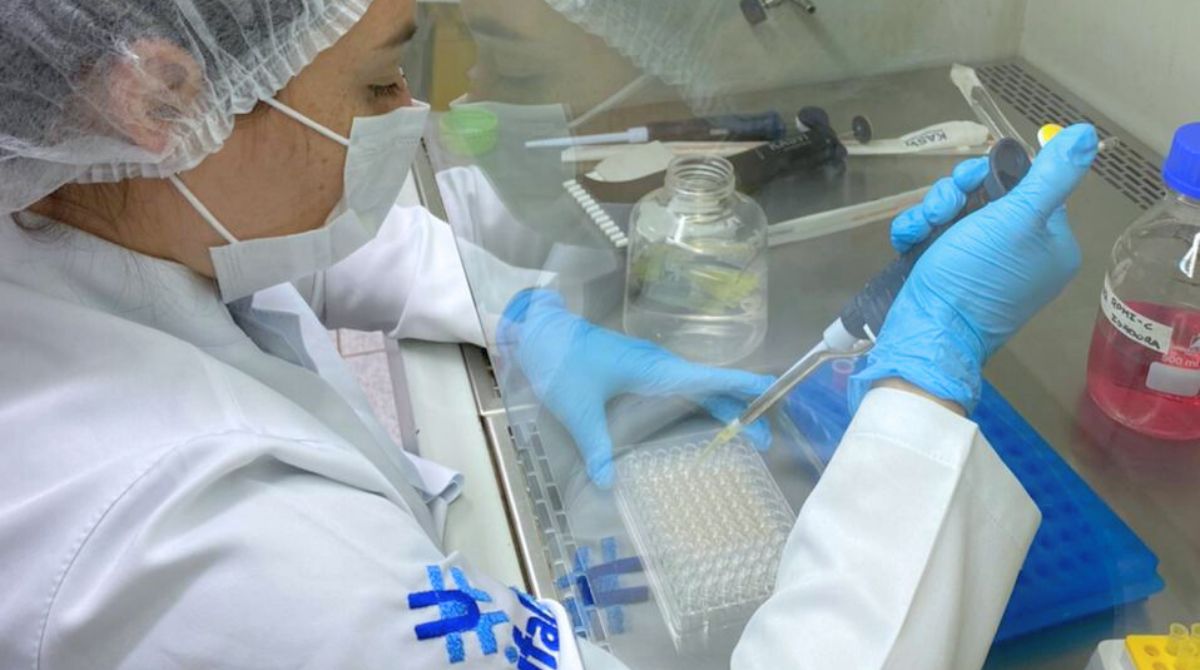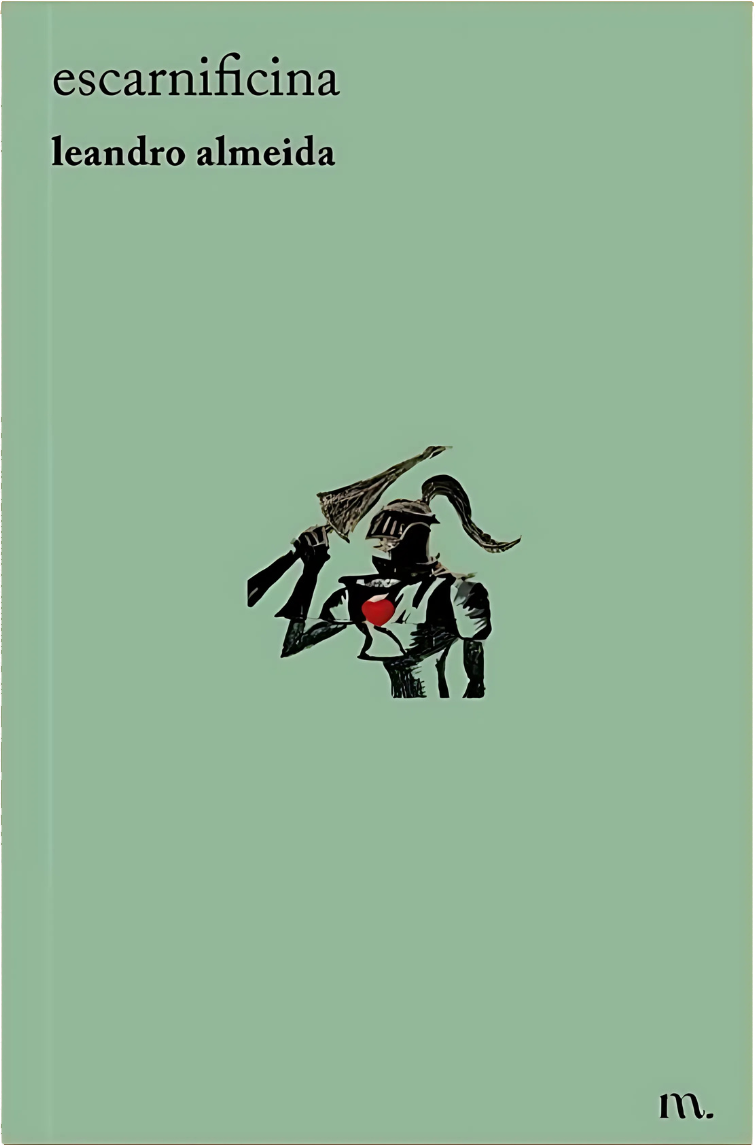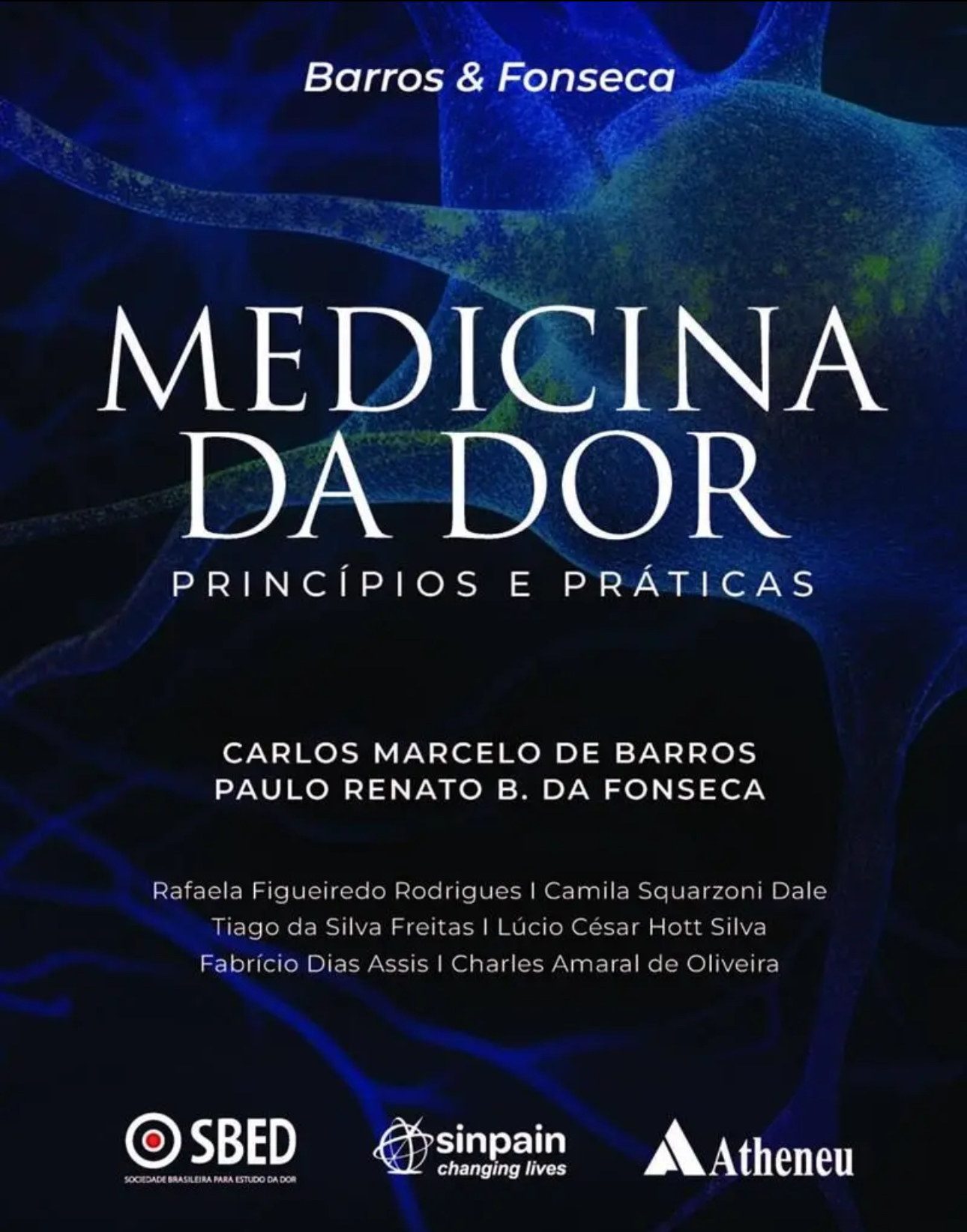Por “culpa” de Freud, terá surgido boa parte de todo o patoá intelectualês capitulado de pós-moderno. Assim como Marx, o criador da psicanálise expôs evidências de que o real se constitui fora de nosso campo visual; a realidade, sua aparência, surge enganosamente à nossa percepção como compreensível por meio dos sentidos – o que Platão já considerava ilusão criada pela doxa (opinião). Do reconhecimento da extrema complexidade do real à conclusão de que, para ir ao fundo das coisas, seria necessário construir discursos intricados e sibilinos, foi um pulinho de meio século. Entretanto, não era bem assim que Freud procedia, e uma boa amostra de seu método está em O mal-estar na civilização (1930), livro escrito na antecâmara da morte.
Obra curta, mas nem por isso simples. Começa por uma frase de enorme atualidade: “É difícil escapar à impressão de que em geral as pessoas usam medidas falsas, de que buscam poder, sucesso e riqueza para si mesmas e admiram aqueles que os têm, subestimando os autênticos valores da vida.” Freud usa essa frase para introduzir sua menção ao termo que seu amigo, o escritor francês Romain Rolland, havia cunhado para definir o impulso religioso: espécie de sentimento “oceânico”, sensação de pertencer a uma indefinida dimensão eterna e ilimitada.
A partir da desconcertante introdução, Freud desenrola um novelo cheio de surpresas. Ao final, ele próprio reconhecerá não haver poupado ao leitor “trechos monótonos e digressões penosas” – exemplo não seguido por alguns de seus discípulos, que se comprazem naquilo de que ele se penitencia. Mas o que importa é o conjunto: O mal-estar na civilização contém uma espécie de sabedoria sobre a condição humana que dificilmente acharemos em outro lugar. Ou acharemos, só que não de maneira logicamente sistematizada, nos clássicos – que Freud não se cansa de citar: Goethe, Shakespeare, Heine e, indiretamente, as tragédias gregas. Ele chega a lastimar o fato de que “a alguns indivíduos é dado retirar sem maior esforço, do torvelinho dos próprios sentimentos, os conhecimentos mais profundos, aos quais temos de chegar em meio a torturante incerteza e incansável tatear”. O médico vienense era também, ou principalmente, um grande escritor, às vezes chegando a caracterizar as instâncias psíquicas Eu e Super-Eu quase como personagens de ficção, atribuindo-lhes atos intencionais.
Nos desvios e detalhamentos que faz ao longo de seu raciocínio, Freud passa por explicações nem tão acessíveis a quem não for minimamente iniciado em psicanálise. Isso talvez torne a leitura pesada para alguns leitores, apesar da vivacidade do estilo de ele era capaz. O núcleo mais significativo do livro pode ser resumido como segue.
Os seres humanos carregam, desde seu surgimento na Terra, uma carga evolutiva que contém elementos instintuais localizados no Inconsciente. (Aí começa o problema: decorrido quase um século, e apesar de interessantes corroborações da psicanálise obtidas na clínica médica – sobre as quais depõe, só para citar um exemplo, o excelente Fantasmas no cérebro (2002), de V. S. Ramachandran –, parece que ninguém sabe exatamente onde fica o Inconsciente. Seria uma discussão muito complicada para quem não é especialista; sigamos adiante.)
Desses elementos instintuais, aqueles que reivindicam para o sujeito a gratificação de seus desejos e do impulso agressivo colidem com os interesses da sociedade, pois a convivência pacífica obriga à renúncia a satisfazer os instintos primitivos. Aqui Freud postula a existência de um “princípio do prazer”, a que se opõe o “princípio de realidade”, pelo qual cada pessoa é obrigada a reconhecer a necessidade de “negociar” com as outras a proteção de sua própria segurança e a sensação de ser amada, de fazer parte de um grupo. Essa equação parece funcionar bastante bem para descrever a necessidade de equilíbrio, na vida social, entre o egoísmo que nos constitui como indivíduos e o mínimo altruísmo que precisamos adotar para não viver em guerra permanente com os semelhantes.
Vê-se que a teoria freudiana é marcantemente tributária do evolucionismo de Darwin, transferido (de maneira modificada, claro) para o plano psíquico. É impressionante a erudição que Freud mobiliza para sustentar sua postulação, na qual também entram elementos evidentes da filosofia de Schopenhauer, como deixa claro este trecho:
Quando uma situação desejada pelo princípio do prazer tem prosseguimento, isto resulta
apenas em um morno bem-estar. Somos feitos de modo a poder fruir intensamente só o
contraste, muito pouco o estado. Logo, nossas possibilidades de felicidade são
restringidas por nossa constituição.
Então, “a tarefa de evitar o sofrimento impele para segundo plano a de conquistar o prazer”. E se “o programa de ser feliz, que nos é imposto pelo princípio do prazer, é irrealizável”, nem por isso nos fica permitido “abandonar os esforços para de alguma maneira tornar menos distante a sua realização”. Saltando as partes mais especificamente psicanalíticas do argumento, temos a dedução de que a humanidade seria bem mais feliz se abandonasse a vida civilizada e retrocedesse ao modo de organização social dos povos primitivos. Não falta quem ainda hoje proponha isso, mas na opinião de Freud essa seria uma solução ilusória, porque mais perto da origem dos primeiros grupos humanos está a situação arquetípica do parricídio, geradora da grande culpa que fez surgir em cada indivíduo a instância denominada pela psicanálise de Super-Eu – um perseguidor implacável a constantemente nos acusar não do que fizemos, mas do que simplesmente desejamos.
Sendo assim, a possibilidade de vida civilizada repousa sobre renúncia, pelos indivíduos, a boa porção daqueles instintos cuja gratificação significaria a felicidade possível. Em outras palavras, infelizmente a repressão é civilizatória, e por isso se gera, no interior das sociedades, uma “frustração cultural” da qual nasce toda hostilidade à vida social, seja a de um simples eremita, seja a daqueles jovens que entram num shopping center ou numa escola disparando fuzis automáticos contra pessoas que nunca viram.
Há muitos meandros no que resta do caminho, apesar da dimensão exígua do livro. É difícil, daqui por diante, conseguir a “simplificação sem negligência ou violentação dos fatos” que constituía, para Freud, a meta do trabalho científico. A conclusão, antes da qual vem uma curta e esclarecedora exposição de alguns dos mais importantes fundamentos da psicanálise, é que “o preço do progresso cultural é a perda de felicidade”, resultando num complexo de perturbações da mente associado ao “mal-estar” do título, por definição indissociável da vida civilizada. Freud coloca na conta do sentimento religioso, aquele lá do comecinho da conversa, um “desconhecimento idealista da natureza humana”, expresso no “mandamento inexequível” de amar o próximo como a si mesmo. Tal como ocorre nas grandes obras da literatura de todos os tempos, ele não oferece qualquer consolo, deplorando que a “chamada ética natural” também nada tenha a propor, a título de solução para o drama humano, além da “satisfação narcísica de o indivíduo poder se considerar melhor do que os outros”.

Título: O mal-estar na civilização
Autor: Sigmund Freud
Tradutor: Paulo César de Souza
Gênero: Psicanálise
Ano da edição: 2011
ISBN: 978-85-6356-030-8
Coleção: Grandes Ideias
Selo: Penguin-Companhia

Eloésio Paulo é professor titular da UNIFAL-MG e autor dos livros: Teatro às escuras — uma introdução ao romance de Uilcon Pereira (1988), Os 10 pecados de Paulo Coelho (2008), Loucura e ideologia em dois romances dos anos 1970 (2014) e Questões abertas sobre O Alienista, de Machado de Assis (2020). Desde 2021, colabora com a coluna “UNIFAL-MG Indica” do Jornal UNIFAL-MG e atualmente assina, no mesmo jornal, essa coluna exclusiva semanal sobre produções literárias. “Montra” significa vitrine ou espaço onde artigos ficam em exposição.
As opiniões expressas nos artigos publicados no Jornal UNIFAL-MG são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem opiniões do Jornal UNIFAL-MG e nem posições institucionais da Universidade Federal de Alfenas