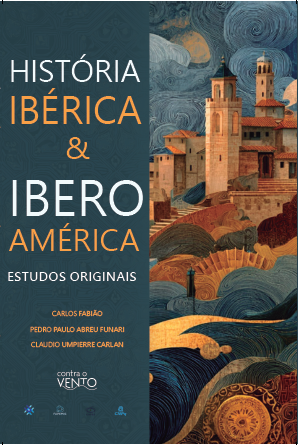O dever de reparar os danos causados por condutas, comissivas ou omissivas, imputadas a agentes públicos, denomina-se responsabilidade civil do Estado. A qual poderá se configurar: ou a) no contexto de uma relação contratual, em que há um vínculo jurídico especial prévio entre o Estado e a vítima (pense-se, por exemplo, num contrato administrativo, precedido de licitação, que é descumprido pelo poder público, na medida em que este pratica alguma inexecução contratual, como mora, inadimplência etc.); ou b) no contexto de uma relação extracontratual, em que não há um vínculo especial a priori entre o Estado e a vítima (como quando, por exemplo, o policial condutor da viatura termina por atropelar um transeunte sobre o passeio). A primeira espécie de responsabilidade civil do Estado é um tanto quanto óbvia, por apresentar-se como uma possibilidade natural de uma relação de contrato. Já a segunda é mais complexa e historicamente controvertida, não fosse por outra razão porque não há, precisamente, uma relação contratual prévia entre as partes. Pois bem. O presente artigo haverá de tratar, muito sucintamente, desta segunda espécie, visando explanar sua evolução histórica e sua configuração atual no ordenamento jurídico brasileiro.
Teoria da irresponsabilidade civil do Estado
Nas monarquias de outrora, em especial na forma de Estado absolutista, imperava a irresponsabilidade civil do Estado, ou seja, a inexistência do dever do Estado de reparar os súditos pelos danos a estes causados por seus agentes – a menos, claro, que o rei, graciosamente, assim o quisesse… embora, tecnicamente, isso não fosse uma responsabilização (leia-se: dever de indenizar), dado que, como tal, lastreava-se não num dever jurídico (leia-se: norma que se deve cumprir a despeito da anuência do seu destinatário), mas numa graça real. Muito basicamente, a irresponsabilidade em questão se fundamentava no princípio da inerrância, afinal, se o rei é o representante de deus, e se deus não pode errar, logo, o rei não pode errar (the king can do no wrong). Simples assim. Inclusive, a Constituição brasileira Imperial de 1824 previa expressamente, na altura do art. 99, que o Imperador não estava sujeito a responsabilidade alguma – conquanto, cumpre destacar, a mesma Constituição já previsse, em outros pontos, a possibilidade de certa responsabilização de outros agentes, como ministros e juízes. Seja como for, nos primórdios, a regra era a irresponsabilidade civil do poder público. Aliás, há quem diga até que, de certa forma, o princípio da inerrância subsistiu na República moderna, uma vez que, a despeito de suas implicações sobre os cidadãos, não há falar na possibilidade de responsabilização civil (logo, no dever de indenizar) do Estado pelos atos típicos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, salvo em alguns casos, a exemplo da lei inconstitucional geradora de danos ou do erro judicial, mormente na esfera criminal.
Teoria da responsabilidade civil subjetiva do Estado
Foi a primeira forma de responsabilidade civil em sentido próprio assumida pelo poder público. Entra em cena subsequentemente à derrocada do Estado absolutista, na esteira do advento do Estado liberal burguês, o qual começa a prever a possibilidade de se responsabilizar civilmente, pelos danos cometidos por seus agentes aos particulares, nos mesmíssimos moldes da responsabilidade civil praticada entre os particulares. Com efeito, para as relações privadas, em que se presume que as partes, via de regra, estão em pé de igualdade, a responsabilidade civil comumente praticada é a subjetiva, a qual, de uma forma ou de outra, tende a se configurar em torno dos seguintes elementos: a) conduta (comissiva ou omissiva); b) resultado danoso, sobretudo de ordem material (e.g. danos emergentes, lucros cessantes); c) nexo causal entre aquela e este; e d) culpabilidade, no sentido de dolo (intencionalidade) ou culpa em sentido estrito (negligência, imprudência ou imperícia, por inobservância do dever de cuidado). Como se observa, a responsabilidade civil em questão diz-se subjetiva porque, para a sua configuração, é preciso comprovar o elemento anímico (subjetivo) do agente, isto é, seu dolo ou culpa stricto sensu, para além da comprovação daqueles elementos de feitio mais objetivo, quais sejam, conduta, resultado danoso e nexo causal (entre conduta e dano). Ademais, trata-se da espécie de responsabilidade civil que acabou sendo adotada como regra geral para os particulares não apenas por se tratar da espécie aparentemente mais consentânea ao nosso senso comum de justiça – assente que, em nossos julgamentos sobre o certo e o errado, o justo e o injusto, o lícito e o ilícito etc., tendemos a conferir um peso significativo à subjetividade, em termos de consciência, intenção, capacidade cognitiva, disposição e motivação – , mas também, e quiçá principalmente, por se acreditar na possibilidade de comprovação do elemento subjetivo (dolo ou culpa stricto sensu), na medida em que se presume que, como as partes estão em pé de igualdade, isto é, numa relação horizontal, como tal dotada de paridade e equilíbrio, e não numa relação de desigualdade, como tal desequilibrada ou desprovida de paridade, a vítima estará em condições de produzir prova da culpabilidade do agente.
Como não poderia deixar de ser, a responsabilidade civil subjetiva do Estado burguês, embora representando um avanço em relação à irresponsabilidade anterior do Estado absolutista, foi insatisfatória (para dizer o menos), senão por prever para uma relação jurídica vertical, como o é a relação entre Estado e cidadão, o modelo de responsabilidade civil próprio às relações horizontais dos particulares. Afinal de contas, se poder público e vítima estão numa relação vertical – dir-se-ia na relação vertical –, logo, desigual, quando mais não seja porque a vítima, à toda evidência, figura em posição inferior em face daquele, é patente então que será muito difícil à vítima, não raro impossível, provar a culpabilidade do agente estatal, tanto mais ainda, não se olvide, num contexto em que quem haverá de enfim apreciar e decidir a lide é o Estado mesmo enquanto Estado-Juiz.
Não por acaso, o próprio direito privado, nas relações entre os particulares por ele regidas, foi reconhecendo e prevendo exceções à responsabilidade civil subjetiva, em especial para aquelas hipóteses em que a relação entre os particulares não apresentasse o mínimo satisfatório de paridade (pense-se, por exemplo, na relação de consumo típica, em que o consumidor não pode figurar senão numa posição de hipossuficiência em face do fornecedor de produtos ou serviços). De fato, para tais circunstâncias privadas excepcionais, começou-se a prever a teoria da responsabilidade civil objetiva, em que o dever de indenizar se configura a despeito da comprovação do elemento subjetivo (culpabilidade) do agente, bastando a comprovação daqueles elementos de natureza mais objetiva, sejam eles, conduta, dano e nexo causal (entre conduta e dano).
Portanto, se até mesmo o direito privado foi a pouco e pouco admitindo, mesmo que excepcionalmente, a correlação entre o fator “particulares em posições desiguais” e o fator “teoria da responsabilidade civil objetiva”, o direito público, por sua vez, que rege, dentre outras coisas, as relações entre o Estado e o cidadão, não poderia, a fortiori, deixar de reconhecer a teoria da responsabilidade civil objetiva como a mais justa e apropriada para lidar com as situações de danos cometidos por seus agentes aos particulares, ante a natureza vertical por excelência entre o poder estatal e o cidadão.
No entanto, mesmo que a responsabilidade civil objetiva, a partir de meados da década de 1940, tenha se tornado a regra, mundo afora, para a reponsabilidade civil do Estado – no Brasil, a mudança de paradigma ocorre de forma expressiva com a Constituição de 1946, consagrando-se em definitivo com a Constituição Federal de 1988, mais especificamente em seu art. 37, § 6º, que prevê, de forma expressa, a responsabilidade civil objetiva do Estado –, cumpre destacar que a responsabilidade civil subjetiva do Estado, em que a comprovação da culpabilidade do agente público é necessária, continua à guisa de exceção, máxime nas seguintes hipóteses: a) no caso de ação regressiva, em que o Estado, após haver indenizado objetivamente o particular, volve-se contra o seu agente, buscando reaver, de algum modo, o prejuízo por este causado (entenda-se: aqui, aplica-se a denominada teoria da dupla garantia, pois, se, no primeiro momento, a forma de defender a vítima contra o Estado e o seu agente, por ser aquela o polo mais fraco, é através da responsabilidade objetiva, facilitando ao máximo a reparação do dano, no segundo momento, a forma de proteger o agente contra o Estado, por ser aquele, agora, o polo mais fraco, é através da responsabilidade subjetiva, resguardando ao máximo os requisitos para a responsabilização); b) no caso de ações contra empresas estatais desenvolvedoras de atividades econômicas (pois, como tais, deverão estar, a princípio, sob o mesmo regime das empresas privadas); e c) no caso de omissão ou silêncio estatal, desde que – e esta ressalva é importante – a omissão não tenha que ver com inobservância de dever funcional, haja vista que, neste caso, a responsabilidade será objetiva (por exemplo: policial que, assistindo a um flagrante, não faz nada para impedi-lo; o salva-vidas que, presenciando um afogamento, não age etc.).
Em suma: atualmente, a responsabilidade civil subjetiva é a regra e a objetiva a exceção no direito privado regedor das relações dos particulares, ao passo que, a responsabilidade civil objetiva é a regra e a subjetiva a exceção no direito público regedor – notadamente enquanto direito administrativo – das relações entre a administração pública (lato sensu) e os agentes privados. De modo que, por exemplo: a) se João colide contra o carro de José, este poderá ser indenizado por aquele, desde que comprove, além dos elementos objetivos (conduta, dano, nexo causal), o aspecto subjetivo (culpabilidade) de João; b) se Maria vende produto danificado a Ana, esta poderá ser indenizada por aquela, independentemente da culpabilidade de Maria, bastando, para tanto, que Ana comprove os aspectos objetivos da situação (conduta, dano e nexo causal); c) se o agente condutor da viatura policial colide contra o carro de José, este poderá ser indenizado pelo Estado, independentemente da culpabilidade do policial condutor da viatura, bastando, para tanto, que José comprove os aspectos objetivos da situação (conduta, dano e vínculo causal) – sem prejuízo, contudo, do direito de regresso do Estado contra o seu agente, caso em que a responsabilidade civil deste será subjetiva, cabendo ao Estado provar que o agente agiu com dolo ou culpa stricto sensu; e d) se Joana tem sua casa destruída por uma enchente supostamente agravada pela omissão de serviços públicos (como obras de hidrovia e limpeza de bueiros), neste caso, por não se tratar de violação de dever funcional, Joana precisará comprovar a culpabilidade do agente em tese responsável pela realização das obras em questão.
Feitas essas considerações, passemos à sistematização da responsabilidade civil objetiva do Estado, a qual, como visto, constitui, atualmente, a regra geral em se tratando do dever estatal de indenizar por danos cometidos por seus agentes.
Teoria da responsabilidade civil objetiva do Estado
Conforme mencionado, a responsabilidade civil objetiva do Estado adentra no direito brasileiro em idos de 1940 e consolida-se com a Carta de 1988, em cujo art. 37, § 6º, lê-se, precisamente, que “[a]s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Sem circunlóquios, a teoria da responsabilidade civil objetiva encampada pela Constituição de 1988 tem por base uma teoria mais ampla, denominada teoria do risco, segundo a qual o Estado (na verdade, qualquer organização de grande porte) deve se responsabilizar pelos riscos inerentes à natureza complexa e aos impactos das atividades por ele desempenhadas, ou, de todo modo, a ele atribuídas.
Na realidade, a teoria do risco pode ser encarada ou em chave relativa, com o Estado não se responsabilizando objetivamente por todos os danos em que estiver envolvido, ou em chave absoluta, com o Estado se responsabilizando de forma objetiva sempre, sendo certo que, no Brasil hodierno, a teoria do risco administrativo, tal como é denominada a teoria do risco relativo, vale como a regra geral, e a teoria do risco integral, como é chamada a teoria do risco absoluto, é reconhecida apenas para alguns casos extraordinários.
No tocante à teoria do risco administrativo, pode-se dizer que ela consiste na teoria da responsabilidade objetiva que admite as seguintes exceções, as quais tem por objetivo “quebrar” o nexo causal, e, por conseguinte, afastar a responsabilização civil (i.e., o dever de indenizar) do Estado, a saber: a) caso fortuito ou força maior: quando de evento imprevisível e inevitável (pense-se, por exemplo, num ciclone, gerador de muitos danos, e que, do ponto de vista da realidade brasileira, não era previsto ou previsível pelo serviço de meteorologia de praxe); b) fato de terceiro: dano suportado por particular e imputável a terceiro sem vínculo com o poder público (e.g. pessoa em situação de rua que lança uma pedra num veículo trafegando na rodovia); e c) fato exclusivo da vítima: autolesão, intencional ou não, sem qualquer contribuição de um agente público (e.g. particular que comete suicídio ao jogar-se na frente de uma viatura policial). Conforme se observa, nestes casos faz-se perfeitamente possível ao Estado alegar uma excludente do nexo causal, a fim de afastar o liame entre conduta e dano, logo, sua responsabilidade. Tanto que, se restar comprovada tal excludente, não há falar em responsabilidade estatal e no consequente dever de indenizar. A propósito, não se olvide, outrossim, a possibilidade de o Estado alegar, em sua defesa, a incidência da chamada concausa, entendida como a contribuição recíproca na produção do dano. É dizer: ao se alegar concausa, o que se está a sustentar é que o evento danoso deve ser imputável tanto ao Estado quanto à fato da vítima, de terceiro ou da natureza, e que, por conseguinte, a responsabilidade civil do Estado, na impossibilidade de ser afastada, deve ao menos ser atenuada (pense-se, como exemplo, no policial condutor da viatura que, imotivadamente em alta velocidade, atropela um pedestre que, por sua vez, havia desrespeitado o semáforo; na árvore que termina por cair sobre a casa do cidadão em função de desleixo do poder público, bem como por força de evento climático anormal; no terceiro em alta velocidade que colide contra a ambulância também em alta velocidade, afetando o cidadão que estava sendo transportado pela ambulância etc.)
Já no que concerne à teoria do risco integral, que, como dito, entre nós é aplicada só excepcionalmente, o que se observa é que, nela, o Estado assume integralmente os riscos inerentes à determinadas atividades – e.g. acidente aéreo com fins terroristas; acidente de trânsito (DPVAT); acidentes ambientais; acidentes nucleares –, não podendo alegar quaisquer causas que teriam por condão afastar, romper ou excluir o nexo causal, logo, a responsabilidade civil, logo, o dever de indenizar.
Quanto ao mais, não seria desarrazoado encerrar destacando que, para efeitos de responsabilização objetiva do Estado, entende-se como funcionário ou agente público qualquer pessoa que estiver a praticar serviço tido como público (do estagiário ao ministro, passando pelo mesário, o concursado, o agente de concessionária de serviço público etc.), e que a atividade do agente estatal geradora do dano poderá ser ilícita (leia-se: violação de dever jurídico preexistente ou contrariedade entre a conduta e a ordem jurídica, a exemplo de uma desapropriação ilícita) ou lícita (e.g. poder público que fecha uma rua comercial por um ano para a realização de uma obra pública, gerando sacrifício desproporcional aos comerciantes; bombeiro que invade e danifica o apartamento A no processo de salvamento de criança de um incêndio no apartamento B etc.).
Conclusão
A responsabilidade civil objetiva do Estado caracteriza um dos mais relevantes avanços civilizatórios do Estado Democrático de Direito, senão porque, nos demais modelos de Estado (e.g. absolutista, liberal), ou não existe responsabilidade civil do poder público (princípio da inerrância), ou, quando existe, é escandalosamente ineficaz, por se prever o modelo de responsabilidade típico das relações privado-horizontais (qual seja, o modelo da responsabilidade civil subjetiva) para uma relação eminentemente público-vertical, como o é a relação entre Estado e cidadão, notadamente em seu viés jurídico-administrativo.
Referências
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: 1988.
CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade civil do Estado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.
MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2003.

Waldir Severiano de Medeiros Júnior é pós-doutorando em Direito e Justiça (FDUFMG). Mestre e Doutor em Direito e Justiça (FDUFMG). Professor de Direito no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) da UNIFAL-MG. Consultor Jurídico (OAB-MG 216.370). Temas de interesse: Direito, Filosofia, Política e Administração Pública.

João Henrique Cunha Gontijo é professor do curso de Direito da Faculdade Anhanguera, polo Divinópolis-MG, e em outras instituições, com ênfase em Direito do Trabalho e Direito Administrativo. Advogado (OAB-MG 128.109). Temas de interesse e sobre os quais poderia escrever ou comentar em áudio: : Direito, Filosofia, Política, Administração Pública.