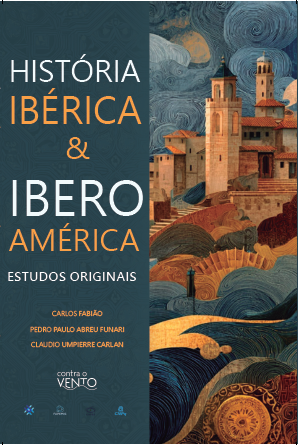Está na ordem do dia falar mal do “cânone” literário, mas o fato é que ele acerta cem vezes mais do que erra. Já os seus detratores, nada mais fazem do que propugnar (às vezes sem ter consciência disso) um outro cânone, mais de acordo com suas preferências afetivo-ideológicas.
Mas, boa notícia: o esquecimento da obra de Amadeu de Queiroz, ao menos em sua terra natal, vem sendo sanado por iniciativa do Legislativo municipal. A Câmara de Pouso Alegre, assessorada pelo Museu Tuany Toledo, começou a reeditar os livros desse escritor que, se não foi o mais brilhante dos modernistas, merece mais ser lembrado que Menotti Del Picchia, cujo Juca Mulato é chamado por Alfredo Bosi de “poemeto brilhante” na monumental História concisa da literatura brasileira. Aí, sim, um erro do cânone: aquilo não passa de canção sertaneja, ainda que dos tempos em que ela ainda não fazia jus ao apodo de sataneja, mesmo incluindo coisas medonhas como a misoginia assassina de “Cabocla Tereza”. De Menotti, que dá nome à Casa de Cultura de Pouso Alegre, ainda há Kalum (1936), romance cuja ruindade – e considerando a época, em que era obrigatório, para um escritor, ser pelo menos alfabetizado – só é comparável ao protonazista O choque das raças ou O presidente negro (1926), de Monteiro Lobato.
Uma das reedições de Amadeu de Queiroz prometidas para breve é seu livro de memórias, Dos 7 aos 77, publicado pela editora Saraiva em 1956 e que atesta as altas qualidades do escritor, especialmente na primeira metade. Essa parte do livro fala dos tempos em que o descendente de imigrantes portugueses viveu em Pouso Alegre, então uma vila minúscula à beira do Rio Mandu, quando este era navegável. Hoje pouca gente sabe que havia tráfego fluvial em alguns rios sul-mineiros, feito até por pequenos barcos movidos a vapor. Desse mundo antiquíssimo é que trata o livro, e a matéria é a mesma em seus primeiros contos e no romance Vozes da terra. Dessa obra propriamente ficcional, o Museu Tuany Toledo já editou, com aquelas verbas que costumam sobrar no orçamento da Câmara, o último manuscrito deixado por Amadeu, Josias do Timboré (2019). Essa narrativa, infelizmente, ficou no esboço; enquanto sua primeira parte sinaliza um romance bastante bom, a segunda e a terceira demonstram que o autor, já na casa dos 80 anos, tinha perdido o fôlego narrativo. Fiquemos, portanto, nas memórias.
Há trechos da prosa de Amadeu que merecem ser recortados como ótimas crônicas. Poucos escritores conseguem evocar de modo tão bonito a vida interiorana no final do século XIX e início do XX. Por meio de uns poucos episódios, o ambiente doméstico se mostra como reflexo dos turbulentos eventos políticos que vão do fim do Império aos primeiros decênios da República. A imagem da infância, sobretudo, é idílica, meio à moda romântica, mas não deixa de registrar cenas de um realismo cru, como aquela em que o ex-escravo João Moleque desmembra um passarinho e o come cru.
Passagens particularmente interessantes dessas memórias são as referentes ao curto período que o autor passou no Rio de Janeiro, como prático de farmácia, quando testemunhou de perto a Revolta da Armada. Sua visão crítica dos primeiros governos republicanos chega a lembrar a de Lima Barreto na obra-prima (canonizada, mas injustiçada pela grande maioria dos leitores) Triste fim de Policarpo Quaresma, romance que, durante o pesadelo mais recente da vida política brasileira, mostrou-se mais uma vez em sua melancólica e acabrunhante atualidade. Amadeu narra aquele momento histórico como farsa na qual uns fingiam que atiravam e outros quase chegavam a fingir que morriam.
Modesto discípulo de Machado de Assis quanto ao estilo, ele às vezes constrói trechos lapidares como este, em que critica a construção da catedral da Sé, em São Paulo:
[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=”14″]
Bloqueada pelo tumultuoso trânsito material e grosseiro de uma praça comercial;
diminuída no seu aspecto pela presença dos arranha-céus que a circundam, a
catedral gótica se reduz a representar o espírito clerical da época em que foi
resolvida a sua construção isto é, um espírito atrasado cinquenta anos, grande
atraso em vista do avançar de nova civilização. No entanto, a igreja que se
levanta lento lento, será concluída em época decerto mais avançada ainda.
Significa, em suma, o delírio medieval de que foi acometido um prelado seguro
da eternidade das coisas, santo homem que não chegou a considerar e a entender
a época que atravessou.
[/perfectpullquote]
Quem lê uma passagem assim, isoladamente, ou outras em que Amadeu faz diagnósticos certeiros do espírito da burguesia paulistana, talvez não imagine que o escritor se mostrará, na contramão, um tremendo conservador, capaz de, por exemplo, atribuir ao automóvel a culpa pelo desaparecimento da “virtude das mulheres”. É a contingência do tempo vivido e da formação familiar, que dificilmente se consegue deixar de lado. Nesse ponto, já estamos na segunda parte do livro, a qual dá conta de uma época em que Amadeu se havia transferido para São Paulo, onde viria a ser o muito querido animador da roda sediada na drogaria Baruel, seu local de trabalho durante alguns anos. Essa roda foi frequentada por dezenas de representantes de duas gerações da literatura brasileira, muitos dos quais recorriam a Amadeu de Queiroz como a uma espécie de consultor, ele que nunca chegou a cursar faculdade, foi o mais acabado exemplo do intelectual autodidata. Por ali passaram, por exemplo, o monstro sagrado Oswald de Andrade, monstro já um pouco desdentado, e a jovenzinha Lygia Fagundes Telles.
Além do automóvel, Amadeu detestava também o futebol (mais uma coincidência com Lima Barreto) e os fumadores de charutos. Do início de sua vida paulistana, merece destaque o divertido relato de seu confronto com um japonês, hospedado na mesma pensão, que achava muito normal passear pelado pelos corredores quando ia tomar banho. Mas essa segunda metade do livro chega, às vezes, a ser um pouco enfadonha, pois dispende excessivas páginas com as querelas políticas e militares relativas aos antecedentes e à eclosão da Revolução Constitucionalista de 1932. Isso não quer dizer que as considerações do memorialista sejam negligenciáveis, apenas que seu estilo perde, nessas passagens, o tom intimista que é seu maior encanto. O mesmo problema ocorre com a segunda parte de Josias do Timboré – a mania das digressões políticas parece eclodir, na prosa do escritor pouso-alegrense, exatamente nos momentos em que o leitor espera um aprofundamento das incursões do narrador pelas vidas miúdas de seus personagens, que quase nos convencem de ser feitos de carne e osso.
Chegando ao desfecho das memórias, momento em que se tornava, cada vez mais, um mestre de melancolia, de modéstia e das comparações irônicas, Amadeu de Queiroz volta a cometer suas excelentes tiradas:
[perfectpullquote align=”full” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=”14″]
O café está sendo servido a um casal que discute o divórcio – a mulher é
solteirona, o homem é padre. Se eu pudesse, e se não fosse mineiro, só de meia
ciência, negava-lhes competência para tratarem do assunto (…)
[/perfectpullquote]
O livro é, enfim, uma boa preparação para quando a relevante obra ficcional do escritor pouso-alegrense estiver outra vez disponível, espera-se que em edições críticas, para os leitores de boa vontade. Até lá, talvez alguns de seus conterrâneos comecem a se perguntar se não é hora de cogitar, revolucionando o cânone local, mudar o nome da sua Casa de Cultura.
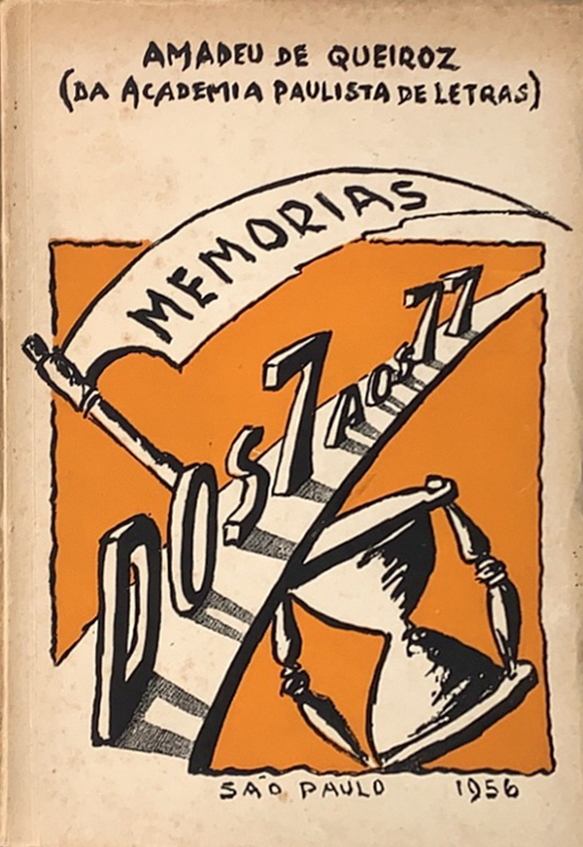
Título: Memórias dos 7 aos 77
Autor: Amadeu de Queiroz
Gênero: Coletânea
Ano da edição: 1956
Selo: Cupolo
As opiniões expressas nos artigos publicados no Jornal UNIFAL-MG são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem opiniões do Jornal UNIFAL-MG e nem posições institucionais da Universidade Federal de Alfenas.