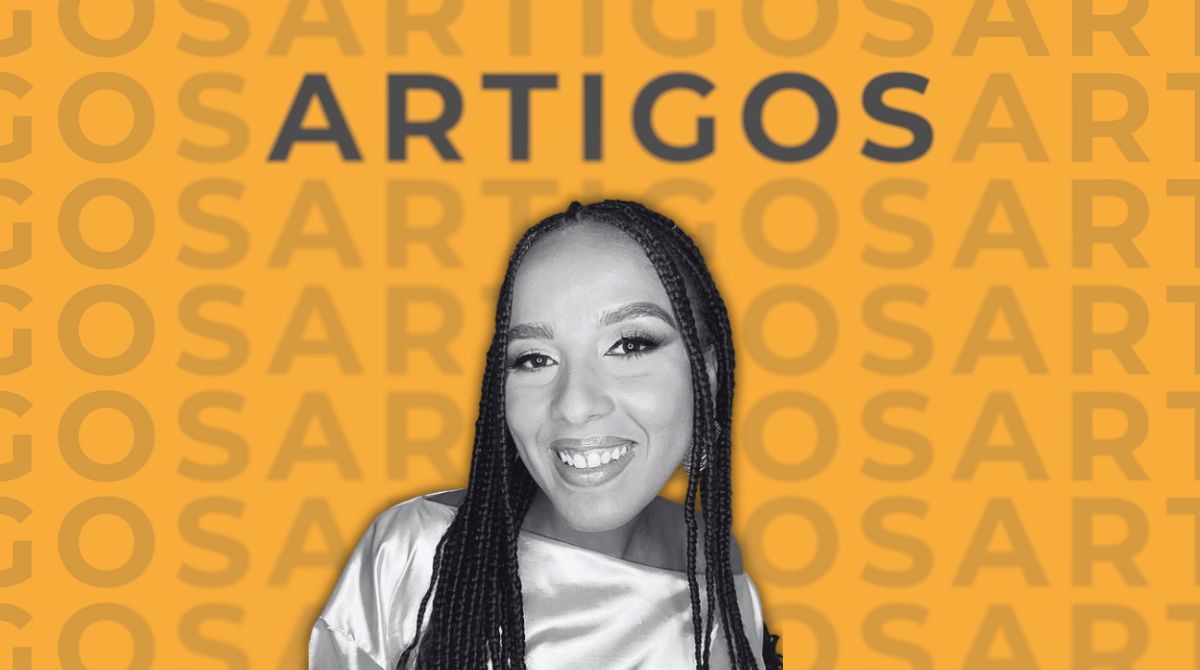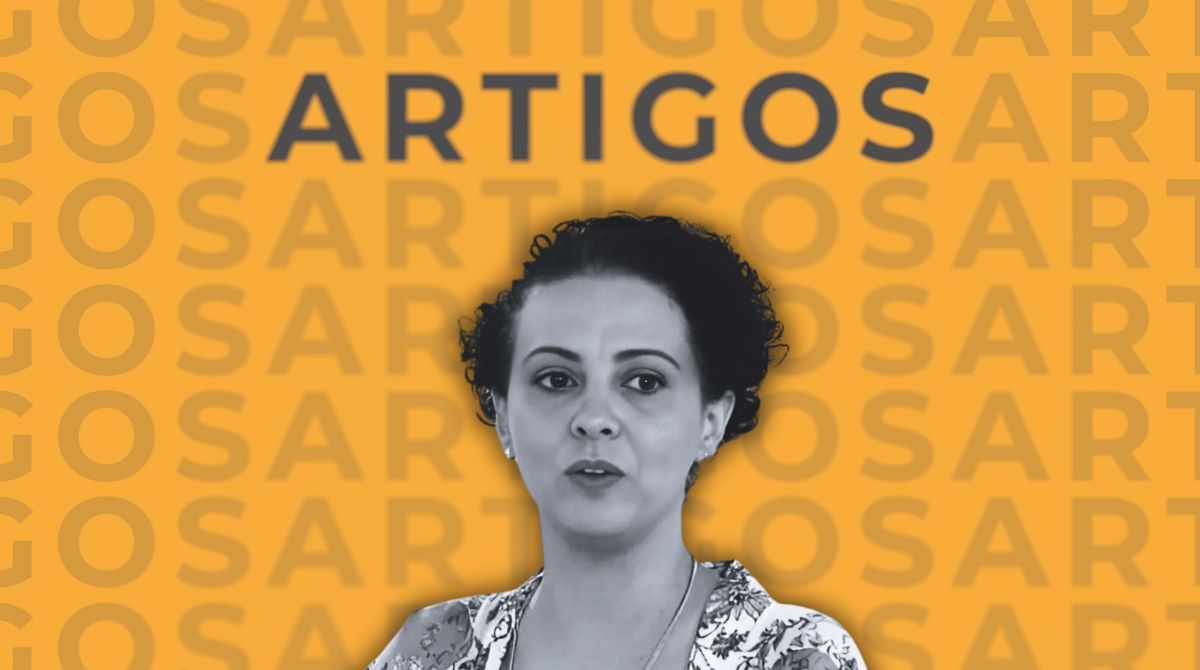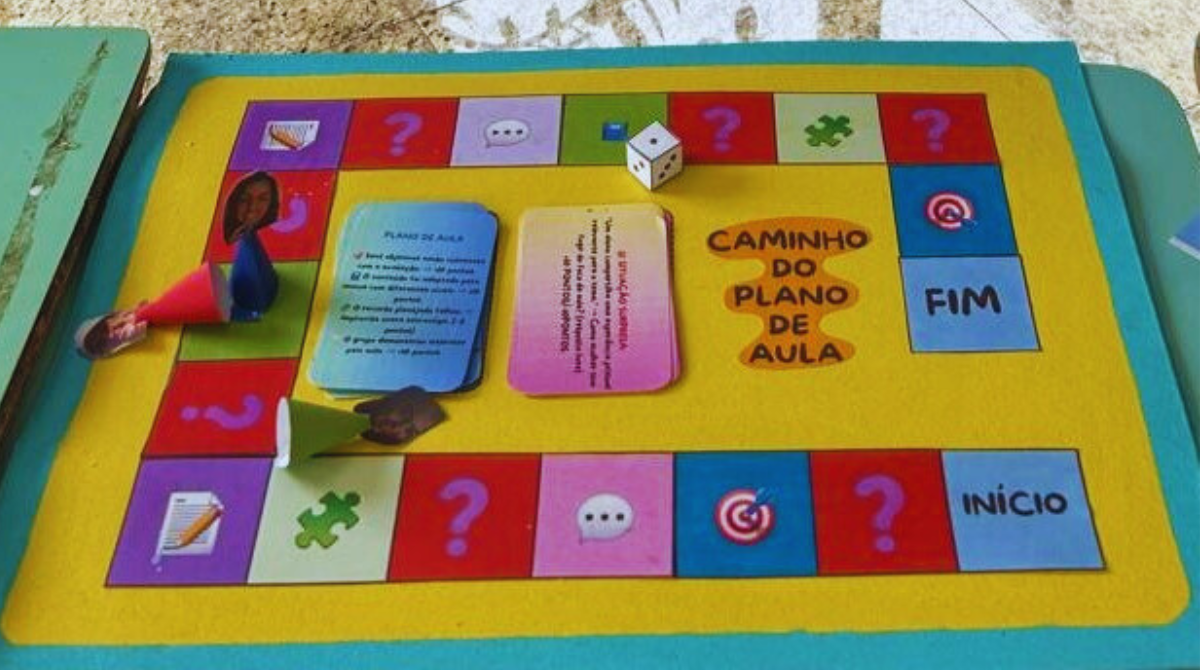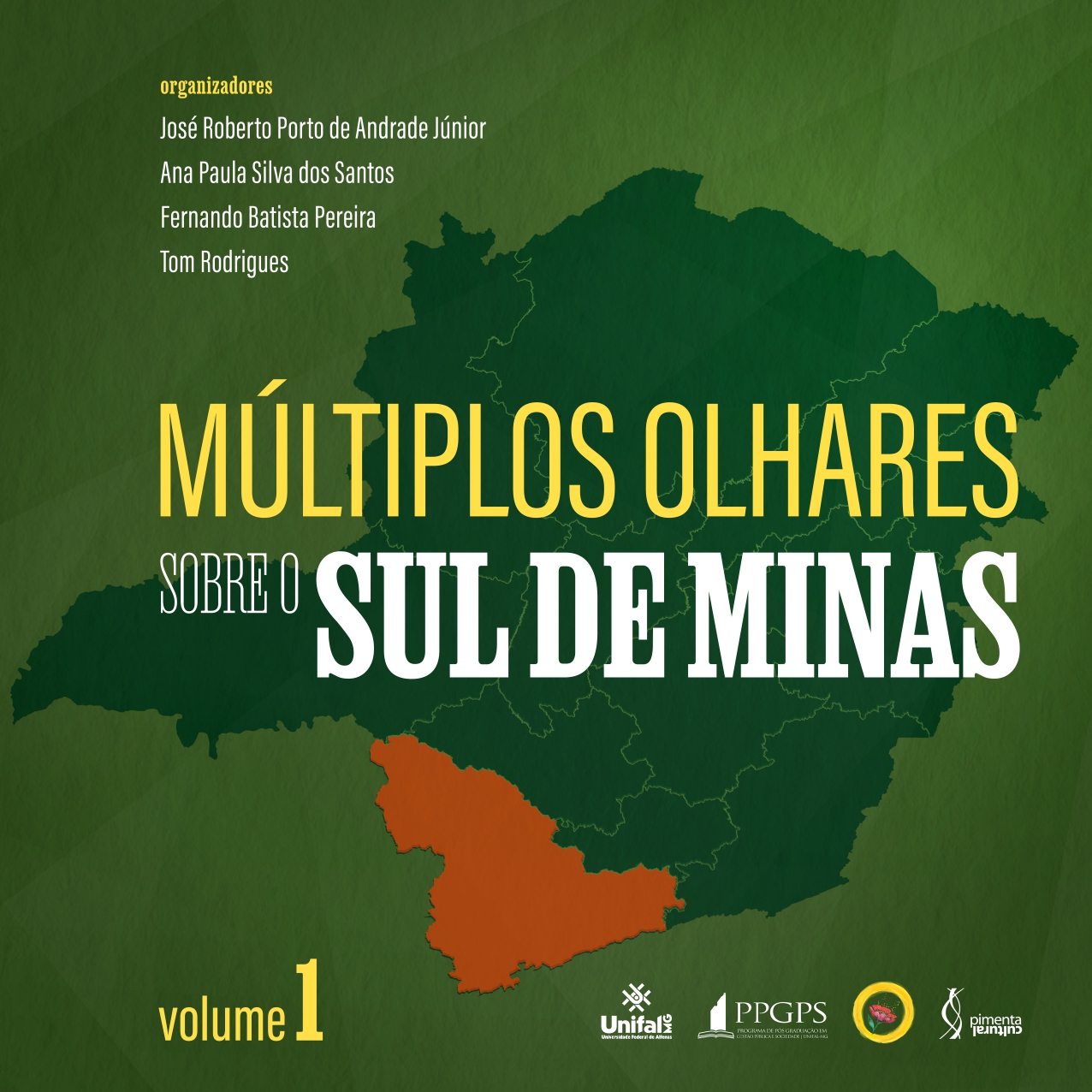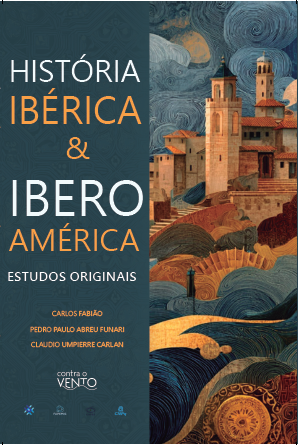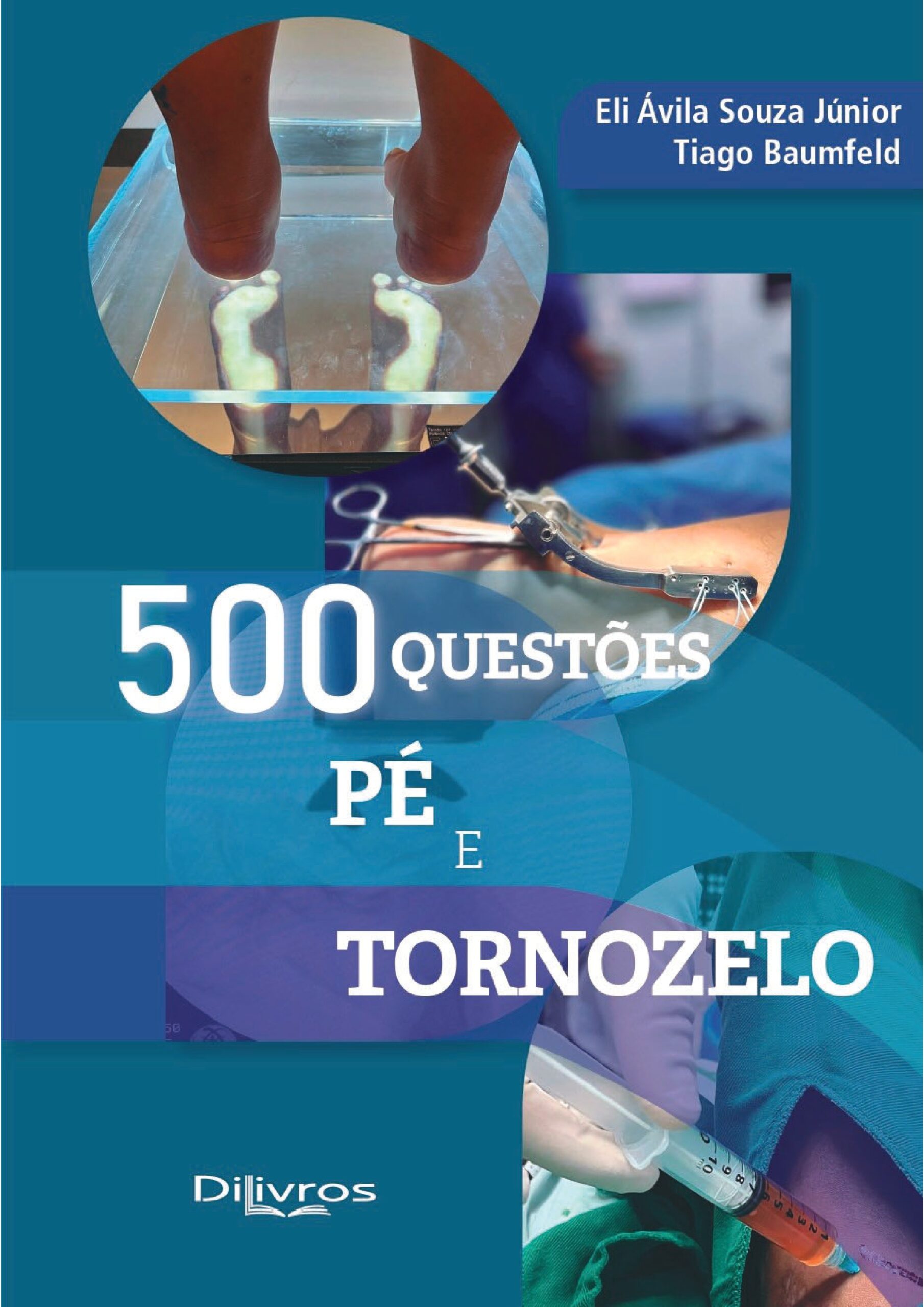Os povos Indígenas no Brasil somam cerca de 1.694.836 pessoas, vivendo ao longo de toda a extensão territorial do país. Segundo o Censo de 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a população Indígena representa 0,83% da população brasileira e está presente em 86,7% dos municípios.
Com os dados do Censo de 2010, o IBGE divulgou um Mapa da Distribuição Total, Rural e Urbana da População Indígena no Brasil, um material interessante e interativo para compreender parcialmente essa distribuição no território nacional. Para os dados de 2022, já há um novo mapa, mas ele ainda não é interativo. Esse levantamento revelou a existência de 8.568 “localidades indígenas” no país, ou seja, territórios ocupados por povos Indígenas, mas não necessariamente demarcados.
O acompanhamento da população Indígena no Censo Demográfico é feito pelo Estado brasileiro desde 1991. Em 2000, observou-se um aumento significativo dessa população, passando de 294 mil para 734 mil pessoas — um crescimento de 149,65% em nove anos. Esse aumento não foi interpretado como um fenômeno demográfico, mas sim como resultado da autodeclaração de pessoas Indígenas frente ao Estado brasileiro (Martins, 2021).
No Censo de 2010, as perguntas foram aprimoradas para compreender melhor a quais etnias pertenciam essas populações, quais línguas falavam e onde estavam concentradas. Como resultado, chegou-se à estimativa de 305 etnias e 274 línguas Indígenas faladas no Brasil. Para o Censo de 2022, os povos Indígenas organizaram a mobilização “Não sou pardo, sou indígena”, convocando os “Parentes Indígenas” a se identificarem no Censo como Indígenas e a informarem suas etnias. Isso ocorreu porque, durante anos, a categoria “pardo”, fortemente problematizada pelo Movimento Indígena, teve o papel de ocultação da presença destes povos nessas terras, fantasiando a ideia de que “não existem mais Indígenas no Brasil”. O que é completamente nocivo e desconectado da realidade.
O Dia dos Povos Indígenas é comemorado em 19 de abril. A data surgiu após o Primeiro Congresso Indigenista Interamericano, realizado entre 14 e 24 de abril de 1940, na cidade de Pátzcuaro, no México. Entre outras resoluções, o congresso propôs que os países da América adotassem o dia 19 de abril como “Dia do Aborígene Americano”. Três anos depois, o então presidente da República, Getúlio Vargas, assinou o Decreto-Lei nº 5.540, de 2 de junho de 1943, instituindo o “Dia do Índio” na data de 19 de abril (IFES-Campus Viana).
Esse decreto foi revogado pela Lei nº 14.402, de 8 de julho de 2022, durante o governo de Jair Bolsonaro. Com isso, o dia 19 de abril passou a se chamar “Dia dos Povos Indígenas”, substituindo a nomenclatura anterior. Essa mudança foi fruto da mobilização dos próprios povos Indígenas, que buscam evidenciar sua diversidade e pluralidade em contraposição ao termo “Índio”, que reforçava uma visão estereotipada, homogênea e simplificada dos Povos Indígenas no imaginário nacional.
No entanto, é fundamental compreender que a institucionalização dessa data, seja como “Dia do Índio” ou como “Dia dos Povos Indígenas”, pouco contribuiu para a luta por direitos desses povos ao longo da história. Por esse motivo, em abril de 2004, por ocasião da comemoração do dia 19 de abril, lideranças Indígenas de diversas etnias e regiões do Brasil se mobilizaram em Brasília para reivindicar direitos à terra, à saúde, à educação e à identidade, além de protestar contra a criminalização de lideranças e comunidades, entre outras pautas.
Esse momento histórico de luta e mobilização deu origem ao Acampamento Terra Livre (ATL), um movimento que ocorre anualmente desde 2004, via de regra em Brasília. Onde diversos povos realizam um acampamento, protagonizando um espaço de resistência e articulação dos povos Indígenas complexificando a “comemoração” em movimento político de luta por direitos, que como sabemos são reconhecidos na Constituição Federal de 1988, Capítulo VIII – Dos Índios, ainda que não efetivamente garantidos. Que como bem nos lembra Felipe Tuxá e Dinamam Tuxá (2023) “Olhar pro Brasil indígena precisa, urgentemente, ser mais que uma celebração de diversidade. Precisa ser enfrentar a História desse país. A história de sua ocupação e o legado que cinco séculos desde a invasão deixaram para as comunidades indígenas no presente”.
Este texto faz parte da série “Abril Indígena”, um convite a todas as pessoas, dentro e fora da academia, a olhar para as questões levantadas por sujeitos indígenas e a compreender o papel que temos, enquanto sociedade, na garantia dos direitos dos povos indígenas, que vêm sendo atacados desde sempre no Brasil. Ao longo do mês de abril, semanalmente, serão compartilhados textos sobre essa temática. Fica o convite para a leitura do próximo!
Referências
ACAMPAMENTO TERRA LIVRE. Disponível em: https://apiboficial.org/historicoatl/ Acesso em 31/03/2025.
BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988.
BRASIL. DECRETO-LEI Nº 5.540, DE 2 DE JUNHO DE 1943.
BRASIL. LEI Nº 14.402, DE 8 DE JULHO DE 2022.
IFES-Campus Viana. Dia dos Povos Indígenas: sua origem e seu significado contemporâneo para os povos indígenas no Brasil. Disponível em: https://viana.ifes.edu.br/noticias/16420-dia-do-indio-sua-origem-e-seu-significado-contemporaneo-para-os-povos-indigenas-no-brasil Acesso em 31/03/2025.
MARTINS, Victoria Satiro de Sousa. (2021). A morte, silenciosa do Espírito, na construção do Estado Nação Brasil: Etnocídio e Genocídio as Raízes do Brasil. Texto apresentado ao Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos como pré-requisito à titulação de Bacharel em Ciências Sociais.
TUXÁ, Felipe; TUXÁ, Dinamam. (2023). Carta para um Brasil que nunca se quis indígena. APIB OFICIAL. Disponível em: https://apiboficial.org/2023/12/27/carta-para-um-brasil-que-nunca-se-quis-indigena/ Acesso em 31/03/2025.

Maria Carolina Arruda Branco é egressa do curso de Ciências Sociais (Bacharelado e Licenciatura) da UNIFAL-MG. Doutoranda em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar/SP), é também mestre em Antropologia pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Sociocultural da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD/MS). Desde 2020, desenvolve pesquisas com o povo Kiriri do Acré, no Sul de Minas Gerais. Durante o mestrado, estudou questões de liderança feminina junto a esse povo, e no doutorado, pesquisa a relação entre Mulheres, Plantas e Encantados no Toré do povo Kiriri do Acré. É pesquisadora vinculada aos seguintes grupos de pesquisa: Humanimalia – Antropologia das Relações Humano-Animais (UFSCar), Etnografia, Linguagem e Ontologia – ELO (UFSCar), Etnologia e História Indígena (UFGD), Grupo de Estudos em Antropologia: Modos de Existência e suas Variações (UEMS) e OIRO – Observatório de Inovações, Redes e Organizações (UFOP). é pós-doutorando em Direito e Justiça (FDUFMG). Mestre e Doutor em Direito e Justiça (FDUFMG). Professor colaborador de Direito no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) da UNIFAL-MG. Consultor Jurídico (OAB-MG 216.370). Temas de interesse: Direito, Filosofia, Política e Administração Pública.
Política de Uso
As opiniões expressas nos artigos publicados no Jornal UNIFAL-MG são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem opiniões do Jornal UNIFAL-MG e nem posições institucionais da Universidade Federal de Alfenas. A reprodução de matérias e imagens é livre mediante a citação do Jornal UNIFAL-MG e do autor.