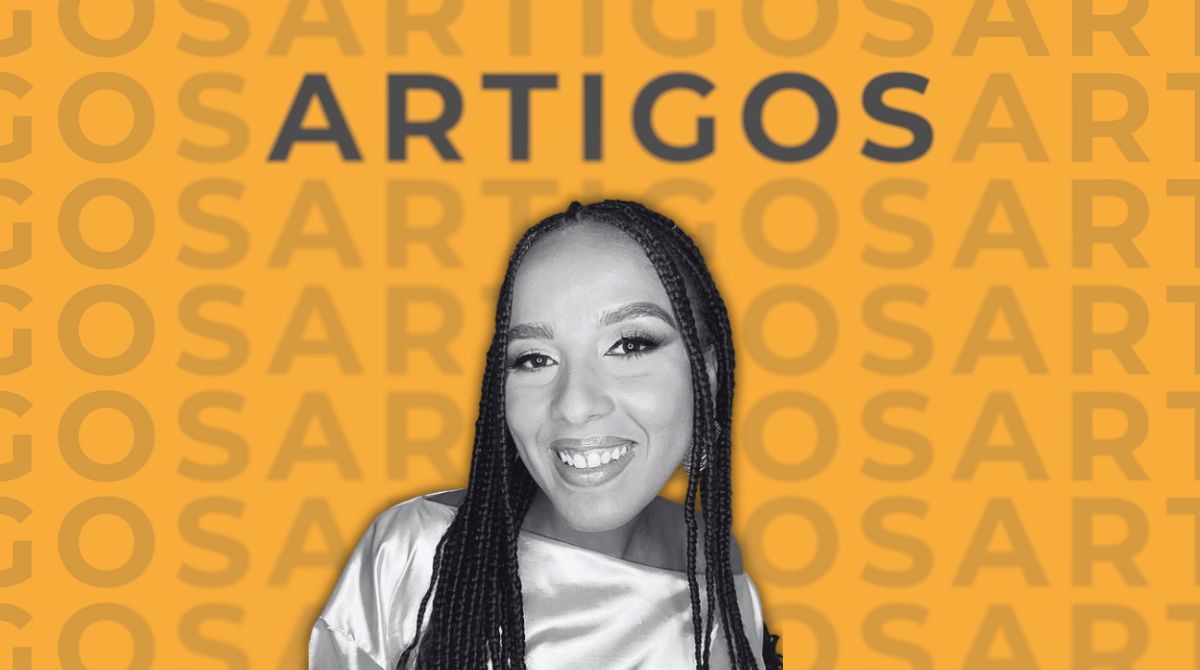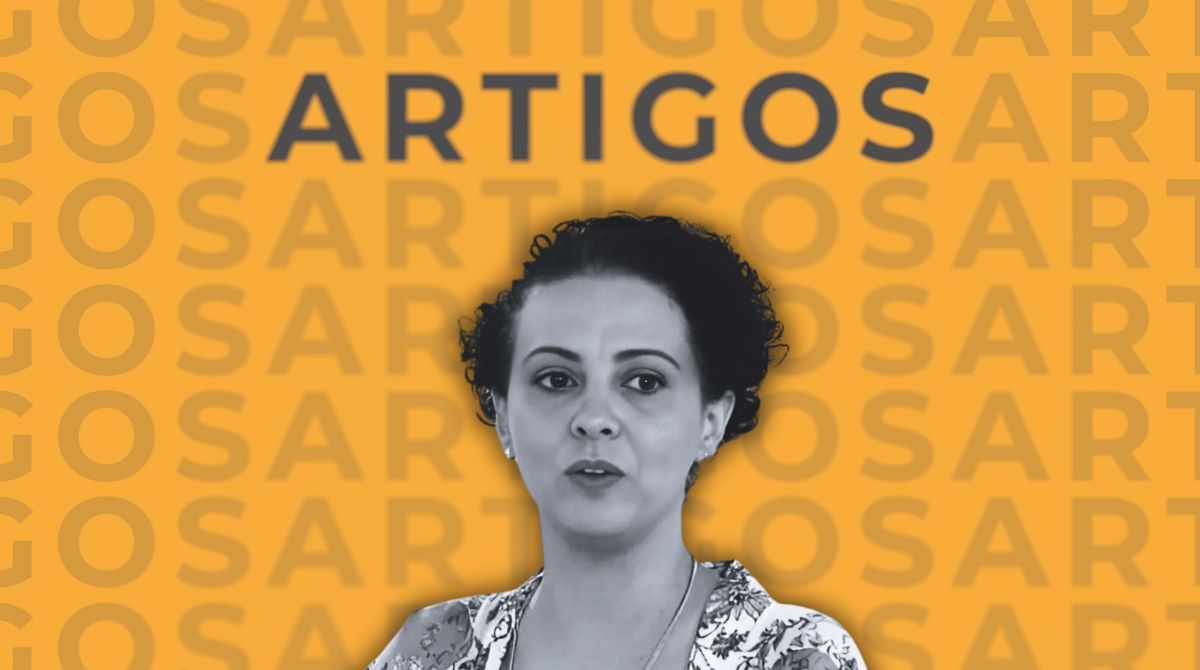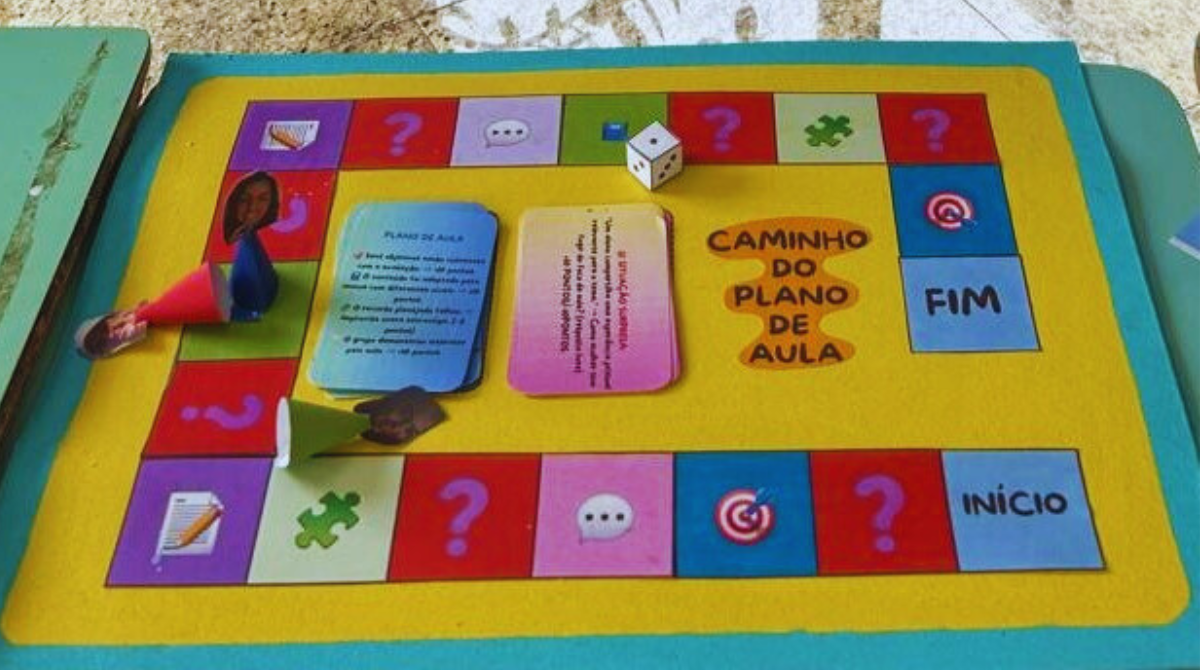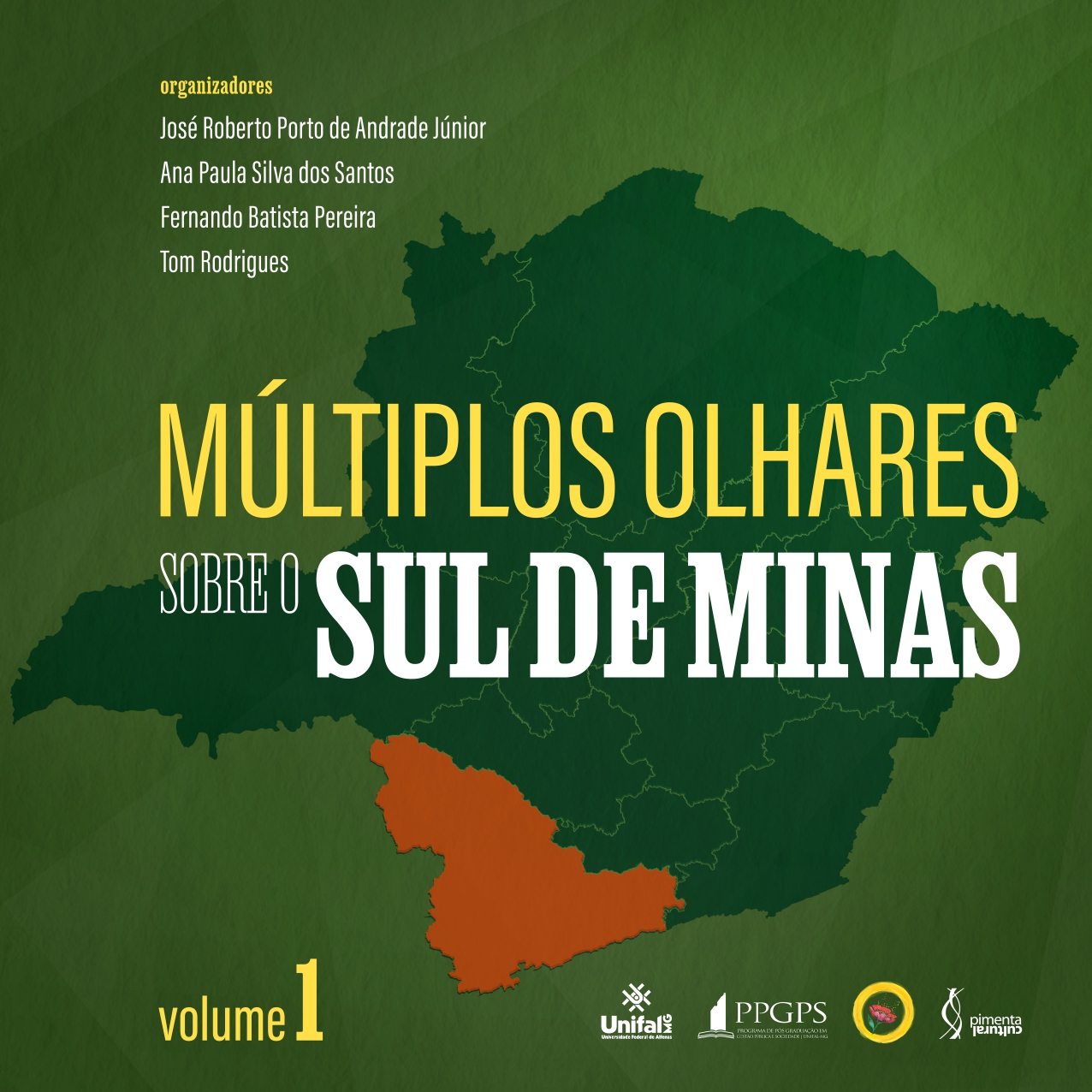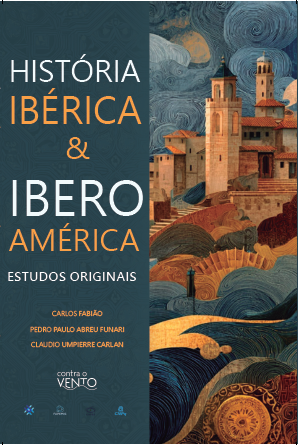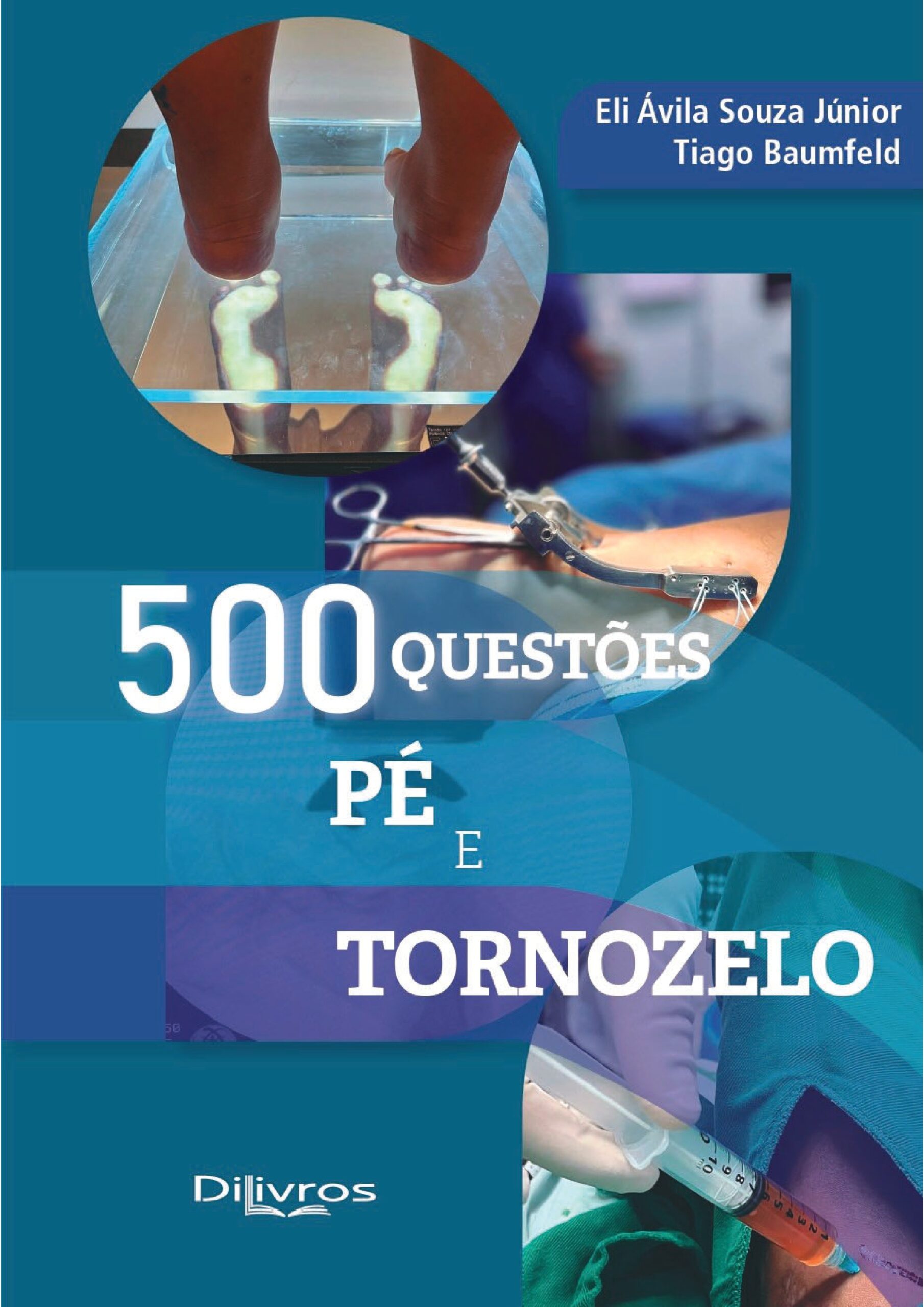Lançada no fim de março no Reino Unido, a série Adolescência tem dominado sites de notícias, podcasts e programas dedicados à psicologia, educação e mídias digitais. Escolher apenas um viés para debater a produção é quase impossível. Além de abordar temas atuais com uma lucidez desconcertante, a série impressiona também pela estética: foi inteiramente gravada em plano-sequência, sem cortes, o que garante uma imersão profunda no clima tenso em que a trama se desenrola.
Em praticamente todas as conversas, palestras, cursos sobre adolescentes e também em todas as análises sobre a série, lemos e ouvimos especialistas de diversas áreas dizendo sobre a dificuldade de falar a linguagem dos adolescentes. Com a imersão drástica que a adolescência atual faz nas Redes Sociais, meninas e meninos criam um dialeto que envolve novas simbologias para antigos emojis e novas interpretações para antigos problemas sociais: a misoginia, o bullying e o racismo são algumas das mais potentes entre elas.
Adolescentes são mestres em se comunicar dentro de uma sala de aula sem que os adultos percebam: por meio de olhares, bilhetes, cutucões, violências veladas, formas específicas de falar e escrever. Mas quando o assunto é o universo digital, o abismo cresce ainda mais. A linguagem deles na internet — fluida, veloz, simbólica — escapa completamente à maioria dos adultos. E é nesse território infinito, repleto de possibilidades e perigos, que os adolescentes circulam com familiaridade. Se prestarmos bastante atenção às cenas do caos que é a escola, facilmente notamos que os adolescentes sabiam de tudo o que já vinha acontecendo há tempos, com detalhes, enquanto a escola e as famílias ignoravam aquilo tudo completamente. Como resultado, um assassinato. Pelos cochichos dos alunos, descobrimos quem estava com a arma do crime. Por seus silêncios, revelam-se a conivência e cumplicidade de outros meninos com Jamie, na violência contra a melhor amiga. Os adolescentes vivem ali na escola, a da ficção, e na da realidade também, um mundo completamente paralelo ao dos adultos, incapazes de enxergar seus filhos e estudantes. Nós estudamos há tempos a linguagem implícita da Instituição Escolar: currículo oculto, seleção velada e violência simbólica são alguns conceitos que nos são familiares, mas pouco sabemos sobre os estudantes e suas formas de reação a todo esse cenário.
Imaginem um crime que já estava planejado e marcado para acontecer e que não era segredo para ninguém do grupo comum do adolescente? Assim é a grande maioria dos atos infracionais cometidos em meio virtual, por vezes planejados por meio de grupos em Redes Sociais ou plataforma de jogos. A família que convive na mesma casa não faz ideia do que está se passando e a escola, na qual os meninos e meninas passam quase o dia todo, ignora porque não vê ou porque não quer ver. Emblemática e infelizmente realista é a cena em que o investigador pergunta ao professor como é que ele não sabia de nada e ele responde: eu só dou aula de história!
E assim, sob a desculpa da linguagem diferente ou das nossas especializações, estabelecemos cada vez menos diálogos com os adolescentes, para muito além das questões geracionais. Trata-se mesmo do conservadorismo hierarquizado nas relações da escola que nunca funcionaram, mas que, em passado recente, era sustentado pelo silêncio surdo da opressão. Como disse Foucault, nós somos eternos saudosistas de um tempo que nunca existiu. Só existe para alegações conservadoras: no meu tempo era bom, no meu tempo a escola funcionava, no meu tempo adolescente não matava ninguém. Esse tempo nunca existiu, mas as formas se modificam e as Redes Sociais exigem de nós cuidado, o cuidado que nos foi delegado, inclusive legalmente, seja como pais ou como profissionais, sobre os adolescentes com os quais trabalhamos ou educamos em casa. Ou seja, sim, se a escola vier a tomar conhecimento deles, ela tem responsabilidade sobre grupos formados por estudantes que, mesmo que fora do espaço escolar, pratiquem bullying, permitam misoginia, exponham outros estudantes e não se pautem pelos mesmos princípios que exigimos de todos na convivência presencial.
A escola é uma Instituição de Educação formal. A finalidade da escola, em especial na experiência brasileira, não é e nunca foi um espaço para aprender exclusivamente matemática e outras disciplinas, como podemos verificar na nossa legislação ao longo do tempo. Escola é espaço de convivência, espaço de formação social, de aprendizagem sobre coletividade, de divisão e cumprimento de regras, de aprender a conversar, ouvir e ser ouvido, de formação de vínculos afetivos e experimentações basilares para sua formação enquanto pessoa.
A questão é que educar adolescentes é tarefa extremamente complexa. Ouvi-los exige esforço e envolve todo o nosso trabalho na Instituição Escolar. Estamos dispostos a estruturar nossas escolas, de forma que os adolescentes possam se expressar? Queremos ouvir o muito que têm a dizer? O que temos feito depois que escolas brasileiras passaram a sofrer ataques violentos vindos dos próprios estudantes ou ex-estudantes? Em geral, temos aumentado a vigilância e colocado policiais ou guardas municipais nas portas, enquanto toda nossa experiência de pesquisa indica que a queda da violência escolar e do bullying estão ligados à mediação e à capacidade de compreender que conflitos existem em qualquer meio social e os adolescentes precisam aprender a lidar com eles.

A mediação, a conversa e o diálogo funcionam como uma “negociação”, inclusive de âmbito cognitivo, para crianças e adolescentes. Ouvir a si próprio, ouvir o outro e ouvir a mediação de um adulto realmente interessado em seus problemas e suas dores faz com que adolescentes aprendam a lidar com frustrações que são reais, mesmo quando aparecem por meios digitais. A frustração na relação com as meninas precisa ser abordada de maneira digna e humana, mesmo nos casos, como na série, em que ela nem tenha ocorrido de fato, ficando apenas no imaginário social sobre as “mulheres cruéis”, imaginário capaz de levar um grupo cada vez maior de jovens a aderir a grupos misóginos como os Red Pill e os “incel”. Os garotos precisam, e isso é urgente, aprender a lidar com a frustração, porque são eles os protagonistas da quase totalidade dos ataques, enquanto as meninas podem protagonizar violência psicológica, verbal e até mesmo física, porém em menor escala e por vezes como forma de defesa ou em resposta a uma agressão. Quando uma turma de adolescentes tem a oportunidade de se sentar em roda e expor suas dores, sentimentos, raivas e frustrações, serem ouvidos por seus pares e por adultos, eles aprendem a conviver verdadeiramente, a ter empatia, a se proteger de grupos violentos da internet. A escola precisa, e é urgente, ser espaço para que os adolescentes falem, construam relações, expressem suas raivas, seus amores, suas vontades, suas frustrações, para que lidem com o que de bom e mau existe nas relações humanas. A conversa que Jamie teve com a psicóloga precisaria ter acontecido antes que suas angústias sobre se sentir feio e sem atrativos se transformasse em rancor violento, o cerne dos incel e red pills.
Para nos livrar de nossa responsabilidade como educadores e sociedade, encontramos uma alternativa pouco eficiente sob o ponto de vista da descontinuidade da violência, mas muito efetiva para os discursos, sobretudo quando os crimes e atentados repercutem através da mídia: a criação de monstros, psicopatas e patologias diversas ligadas a estudantes cada vez mais jovens. E é nesse ponto que a série inova e, por isso, provoca tanta proximidade com quem assiste: Jamie é um garoto que poderia ser qualquer outro, com família que busca dele se aproximar, com angústias, medos e desejos semelhantes ao de qualquer outro menino da sua idade. Através de sua história sabemos que ele poderia ser um de nossos filhos, um colega de escola, um de nossos alunos e até nós mesmos.
Os condicionantes sociais que levaram Jamie a cometer um assassinato não são absolutos, óbvio, há elementos únicos, individuais e escolhas que nos fazem optar por algumas decisões absolutamente trágicas e criminosas, como no caso da série. Mas sabemos que seria possível intervir e ficamos nos perguntando como a situação chegou àquele ponto. Jami era um menino que ainda urinava na cama por medo, que tinha apenas 13 anos e imaturidade física, emocional e psíquica, mas com capacidade de cometer um crime absolutamente cruel, injusto, machista e irreparável. A adolescente, mais uma menina vítima do machismo prematuro, como muito bem alegou a série, tende a ser esquecida, não protagoniza sua própria história, o que é típico do silenciamento dos feminicídios.

É exatamente por isso que precisamos falar sobre a escola — não como vilã ou redentora, mas como espaço possível de transformação. Um lugar onde a escuta atenta pode, sim, fazer diferença. Onde a mediação entre mundos pode evitar que a linguagem da violência se torne a única possível. Onde o machismo, tão naturalizado desde cedo, possa ser nomeado, questionado e enfrentado.
Jamie não é um monstro. É um menino forjado por silêncios, abandonos e padrões que seguimos reproduzindo — inclusive dentro das instituições que deveriam cuidar, educar e proteger. Se a escola falhou, é porque nós, como sociedade, também estamos falhando. E enquanto as meninas continuarem morrendo e os meninos forem engolidos pela brutalidade, não teremos o direito de dizer que não sabíamos. Porque sabíamos. A série escancarou. E a vida, infelizmente, também.

Andréa Marques Benetti é mestra em Educação pela Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), doutoranda em Educação pela Universidade de São Paulo (USP) e professora na rede municipal de Barueri (SP). Integra o Grupo de Estudos da Juventude* da UNIFAL-MG.
* O Grupo de Estudos da Juventude é um projeto de extensão vinculado à Universidade, coordenado pelos professores doutores Luís Antonio Groppo e Marcelo Rodrigues Conceição. O grupo é aberto à participação de estudantes, docentes e também da comunidade externa interessada na temática. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail: luis.groppo@unifal-mg.edu.br.
Política de Uso
As opiniões expressas nos artigos publicados no Jornal UNIFAL-MG são de inteira responsabilidade de seus autores e não refletem opiniões do Jornal UNIFAL-MG e nem posições institucionais da Universidade Federal de Alfenas. A reprodução de matérias e imagens é livre mediante a citação do Jornal UNIFAL-MG e do autor.