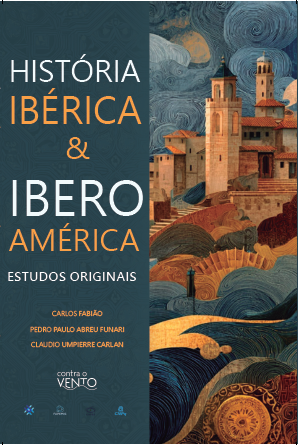A expressão que dá título a este texto refere-se em A fúria do corpo (1981), romance de estreia de João Gilberto Noll, a dois de seus personagens – portanto, lá, o “errante” está no plural. Ela poderia ser usada para definir o próprio livro escrito pelo ficcionista gaúcho morto há quase seis anos. A não ser para quem se compraza na própria confusão já enunciada no título, ou nas obsessões do autor, a narrativa vem embalada em aparente sofisticação formal, mas se desnuda como puro improviso em tropeços de linguagem; por exemplo, atribuir à paisagem “alturas magnânimas” ou associar pronomes referentes ao espaço com substantivos que definem tempo.
Para não ficar apenas em questões gramaticais, pois está na moda escritores não dominarem o vernáculo: há passagens de escasso lastro na lógica do mundo real, que a ficção pretende representar, como o narrador perguntar a um rapaz de 19 anos se tem filhos. Ou a coprotagonista – palavra horrível, viva a nova ortografia! – reaparecer “redimida” da sua condição de moradora de rua, agora como stripper numa boate, depois de um período que, a julgar pelos episódios nele relatados, não pode ter passado de uns poucos dias.
De saída, o narrador sonega enfaticamente seu próprio nome, dando como justificativa razões supostamente apoiadas em aguda consciência teórica. Em seguida, passa quase 300 páginas andando de um lado para outro, o mais das vezes em torno do bairro carioca de Copacabana, com o único objetivo reconhecível de deitar falação. Essa pasta narrativa passou, pelos critérios de boa parte da crítica especializada, como produto literário de qualidade, mas o estilo de Noll lembra um mecanismo enguiçado, sempre a travar e a reiniciar seu funcionamento sem propósito nem direção. Vão dizer que se parece com a definição de Macbeth sobre a condição humana, talvez, “conto contado por um tolo, cheio de som e fúria e significando nada”; mas, por favor, leiam Shakespeare com bastante atenção antes de comparar a ele qualquer escritor de qualquer época, lugar ou língua.
O cenário assumidamente confuso, pois, abriga um narrador idem. O que tal narrador mais relata, na primeira metade do livro, é sua própria atividade sexual. Com homem, mulher, grã-finos ou bebuns, não importa. A fúria do corpo consiste em praticar o coito em todas as variações hetero e homossexuais, de preferência multiplicando expressões de baixo calão. É claro, isso podia soar como transgressivo nos estertores da ditadura militar, mas ficou tremendamente datado e é muito pouco para que uma obra literária seja representativa de algo que não a vulgaridade e a falta de projeto narrativo.
Então, no início da ação o narrador está copulando com uma mulher a que dá o nome de Afrodite. É um nome, por assim dizer, de fantasia, podendo ela chamar-se Cremilda, Hermengarda ou Pâmela, exceto pelo fato de que nenhum desses é o nome da deusa grega do sexo: a obviedade se entroniza, o clássico é rebaixado – o que não constitui novidade pelo menos desde o Ulysses (1922) de James Joyce. O enredo consiste na descrição de relações sexuais e no discurso ininterrupto desse personagem que parece ter sido inventado (ou autorreciclado) para encenar as obsessões do próprio escritor, que eram a religiosidade católica e as variedades da cópula entre dois seres humanos, não ocorrendo no livro a zoofilia, a qual, aliás, seria pouco surpreendente. O sexo é encarado como quebra de tabus, do modo como ainda se o via naquele Brasil cujos fabricantes de consciências não haviam descoberto o potencial lucrativo da sexualização precoce e onímoda, cujo programa nacional oficioso foi e continua sendo capitaneado pela Rede Globo, com alguns intelectuais conseguindo perguntar-se por que se disseminou, entre a população mais conservadora nos aspectos superficiais da moral, o apelido “Globolixo”, pespegado à emissora pela direita hidrófoba.
Ora, Nelson Rodrigues também escreveu sobre suas obsessões, entre elas o bordel das normalistas. Mas o produto literário e teatral de Nelson era de altíssimo nível. Em Noll, tudo fica no nível do rodapé catártico. Já no primeiro sumiço de Afrodite – ocorrem vários, e a repetição dos mesmos expedientes é algo que torna o romance especialmente chato –, o narrador logo encontra um rapazola identificado apenas como “o menino”, tão disponível sexualmente como todos os principais personagens que aparecerão ao longo do relato. Sem nenhuma consideração sobre o que isso possa significar, se engalfinha sexualmente com o garoto e passa a acompanhá-lo numa andança pelo Rio de Janeiro, entre Copacabana e a Cidade de Deus, mostrando que também não tem qualquer problema com a transgressão da lei, pois o outro era traficante e acaba, depois de preso, assassinado pela polícia. Um elemento grotesco que poderia ser melhor explorado nessa busca da síntese entre abjeção e prazer fisiológico: os traficantes para quem o “menino” trabalha são um grupo de hansenianos (no texto, “leprosos”).
Depois da depressão devida à morte do rapaz, mais andanças. E, daí por diante, alguns desencontros e reencontros com Afrodite. Tanto esta como o narrador são caracterizados como andarilhos sem destino, sobrevivem da aplicação de pequenos golpes em desavisados – como sejam uns turistas estrangeiros, otários por definição. Ou, a fome aparecendo, recorrem à prostituição.
Esse material, digamos, impuro, poderia resultar numa obra de ficção interessante; já havia o Satyricon de Petrônio no século I. O problema é o tratamento narrativo; tudo vai sendo derramado na imaginação do leitor num despejo verbal febril que talvez tenha pretendido ser o velho stream of consciousness (fluxo de consciência) da ficção moderna. Em primeiro lugar, isso não é pós-moderno coisíssima nenhuma, e aliás pouca gente soube bem o que o fosse, além de Fredric Jameson e Linda Hutcheon, dois importantes críticos que teorizaram a respeito. Mas entre Clarice Lispector, que usou a técnica em Perto do coração selvagem (1943), e João Gilberto Noll, a diferença não é apenas quanto à proficiência (lembrando que Clarice era uma mocinha de família imigrante), e sim, muito mais, relativa à adequação da técnica em função da qualidade e da quantidade da matéria narrativa a ela submetida.
Os romances brasileiros com que A fúria do corpo se parece são muito melhores: Panamérica (1967), de José Agrippino de Paula; Confissões de Ralfo (1975), de Sérgio Sant’Anna; e No coração dos boatos (1982-1984), de Uilcon Pereira. Cada um deles tem sua poética narrativa, cujo propósito vai muito além do simples jorro de episódios chocadores-de-burgueses*. Em todos se vê um projeto estético por trás da aparente confusão, uma intenção crítica e um manejo consciente dos recursos técnicos à disposição do ficcionista.
A lógica narrativa, que no romance de Noll é escassa, ainda assim entra em crise quando o narrador e Afrodite são, inexplicavelmente, desinvestidos de suas incríveis compulsões sexuais. A partir daí, por cerca de 80 ou 100 páginas, ganha mais espaço a autoespeculação do primeiro, que passa a chafurdar numa sondagem de seu próprio passado afetivo – no qual havia episódios eróticos mais suaves –, talvez para substituir as compensações corporais que o presente do relato lhe nega.
Por vezes, a prosa de Noll ameaça virar poesia. Mas não vira. O que prevalece é o tráfego constante do arrebatamento amoroso (anacronicamente romântico, diga-se) para o aviltamento sexual e o acerto de contas com a formação religiosa do narrador, tráfego de ida e de volta. Entre um e outro desvio por incursões na memória ou no devaneio, pode contar o leitor: a narrativa voltará sempre ao pequeno círculo de giz em torno de Copacabana e da meia dúzia de fixações psicológicas que são a única matéria-prima do romance.
Alguém poderá encontrar profundas simbologias nessa gororoba; afinal, os teóricos da literatura são mal pagos é para isso. Mas o fato objetivo é que A fúria do corpo é um texto pobre como estrutura narrativa e como linguagem, por mais que esteja cheio de referências artísticas e filosóficas. Não lhe falta nem um episódio paulocoelhesco em que certo velho de barbas brancas, podia até chamar-se Melquisedec, oferece ao desorientado narrador a iluminação espiritual. Pouco antes, uma mãe-de-santo já havia desempenhado papel semelhante, mandando-o fazer oferenda a Iemanjá numa terça-feira de carnaval.
O romance termina, tudo indica, mais por cansaço do que por ter chegado a alguma meta. Seu desfecho, obviamente aberto, aponta para a possibilidade de um reinício da mesma falação. Denuncia um escritor que aparenta haver nascido já cansado do esforço de entender o tempo que lhe coube viver, e por isso cansa seus leitores.
* Oferece-se um pé-de-moleque de Elói Mendes a quem captar a ambiguidade da expressão.
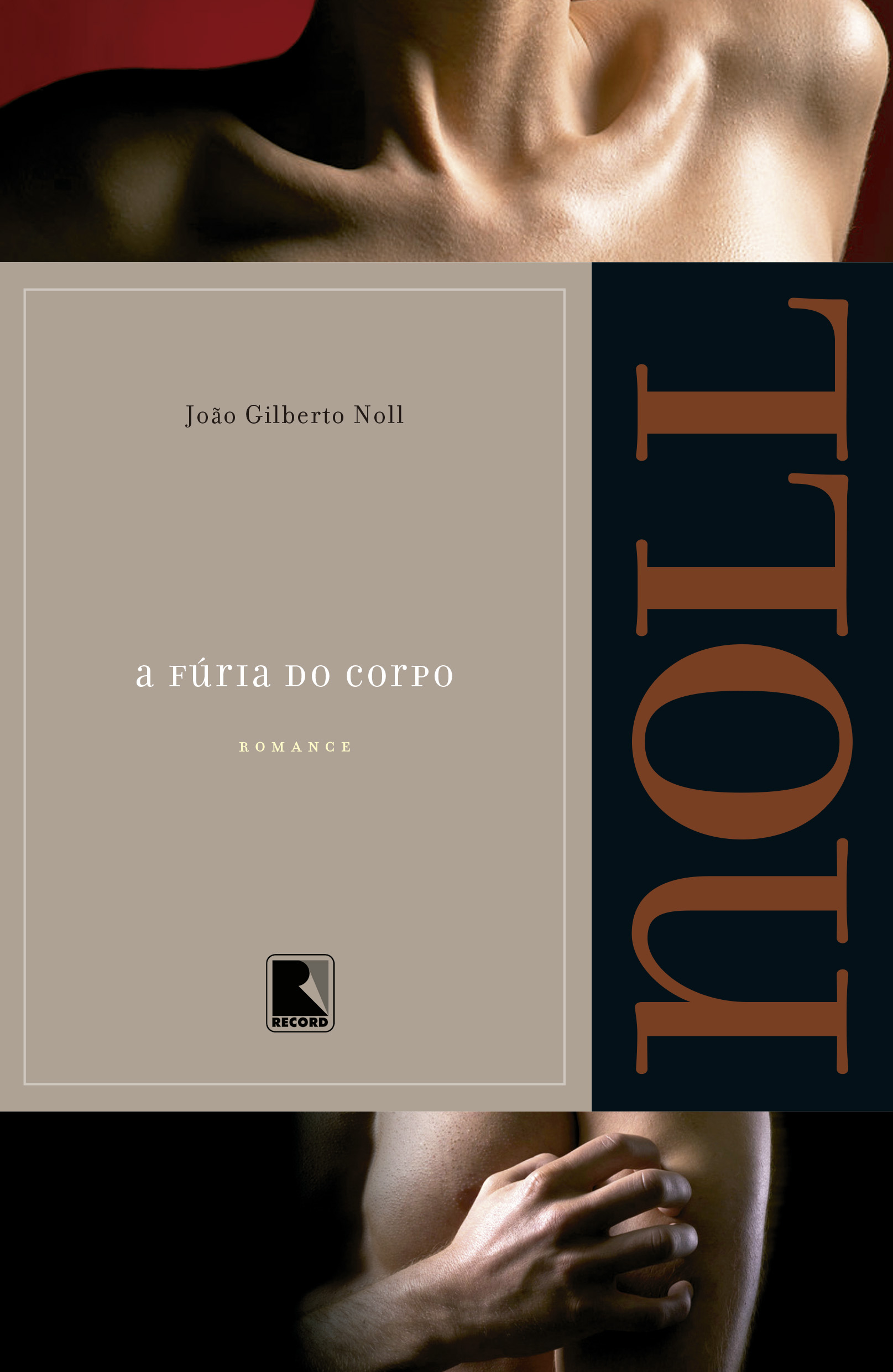
Título: A fúria do corpo
Autor: João Gilberto Noll
Gênero: Romance | Ficção
Ano da edição: 2008
ISBN: 978-85-01-08030-1
Selo: Grupo Editorial Record