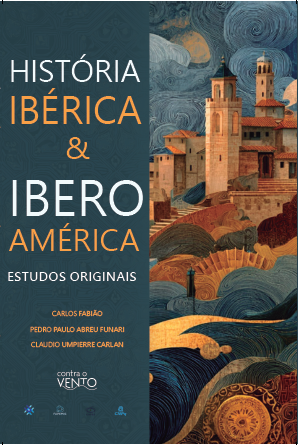Há muitas maneiras de julgar um livro. Se for julgado pela riqueza das reflexões que suscita, Cabeça de papel (1977), de Paulo Francis, terá que ser considerado um grande livro. Para o leitor comum, porém, o mais provável é que a leitura consista num garimpo expectante das tiradas geniais do narrador, que replicam de modo inequívoco aquelas com que o articulista brindava, no mínimo duas vezes por semana, os seguidores de sua coluna “Diário da Corte”, publicada na Folha de S. Paulo nos anos 1980, período áureo da escrita de Francis e do próprio jornal. No final do milênio, o jornalista havia migrado para o diário rival e, por sua vez, a Folha havia migrado para a linha editorial infanto-juvenil que resultou em sua melancólica decadência.
Não por isso, Cabeça de papel tem um sabor inequívoco de obra datada. Aquele Rio de Janeiro da ficção de Francis, se um dia existiu, foi só para meia dúzia de delinquentes juvenis de classe média alta. Dois deles formam o par antiquixotesco de protagonistas, não por acaso ambos descendentes de alemães, como, por sinal, o próprio autor. Em princípio o mais parecido com a pessoa física Francis é Hugo Mann, sobrenome emprestado de um dos maiores escritores modernos. Em algumas partes do romance, ele faz as vezes de narrador; em outras, dá lugar a um discurso onisciente que antigos leitores de Paulo Francis não deixarão de identificar com o próprio escritor.
O enredo? Fragmentado em meio à falação narcisista dos narradores, consiste no relato da situação de dois casais encabeçados pelos protagonistas, mais alguns amigos e conhecidos do jet set carioca, ao fundo o panorama de um país que vivia sob o regime militar de 1964 em sua pior fase, aquela em que a brutal repressão aos opositores começava a dar sinais de insustentabilidade, anunciando-se, pelos alto-falantes mentirosos do “Brasil Grande”, uma estatização da economia que iria resultar na colossal dívida externa que subjugou o país até o início do novo milênio. Tudo gira em torno do dia-a-dia da redação comandada por Hesse (o jornal tem como colaborador Hugo Mann), aliás outro sobrenome tirado de um escritor alemão — ninguém poderá, nesse quesito, acusar Paulo Francis de originalidade.
Hesse tem destaque, e no ponto alto de sua trajetória dentro da narrativa está o caso adúltero com a mulher de outro importante editor de jornal. Suas ações cotidianas são pretextos para os narradores empreenderem uma espécie de sociologia da imprensa brasileira — ou melhor, carioca, sendo uma aparente falta de verossimilhança o esquecimento de que metade da grande imprensa brasileira estava em São Paulo, havendo alguma vida editorial contabilizável também em Brasília. A mulher de Hesse, Maria Silvia, é uma antiga “moça de família” que se casara grávida; a imagem das mulheres, em geral, não é nada lisonjeira em Cabeça de papel. Paulo Francis, por sinal, revela não só abrangente misoginia, mas também homofobia, demofobia e marcado preconceito racial contra negros e índios. Seria, hoje, a perfeita bête noire (sem trocadilho) do politicamente “correto”; em compensação, os moralistas poderiam facilmente acusá-lo de apologia do uso de drogas, tão glamurizada é a cocaína em sua narrativa. Idem, sua banalização do sexo vai muito além das ingênuas perversões juvenis pós-Xuxa que têm passado pela pós-modernidade mais autoconsciente.
Mann, sintomaticamente, é o jornalista mais genial de todos os tempos, prato cheio para psicanalistas, uma síntese de todo o livro: Francis repisa, por meio de suas personagens e dos narradores, o repertório de suas obsessões diariamente purgadas no “Diário da Corte” ao longo de décadas. Afinal, “um pouco de água sempre jorra sobre as represas mais sólidas”. O escritor sempre ironizou Freud em sua coluna, como de resto a tudo e a todos, de Maomé aos bandeirinhas do futebol, mas caía como um patinho, a todo momento, nas redes todo-poderosas do inconsciente.
Existe ainda um terceiro mosqueteiro, Victor, que reaparece (sic) na primeira página; estivera sumido pelo estrangeiro depois do golpe de 1964 e arriscava uma volta ao Brasil. Acaba se dando bem, pelo menos antes do inesperado — e canhestro — desfecho da narrativa.
Não é leitura fácil, Cabeça de papel, mas compensa pela diversão de surpreender o autor, com frequência, em passos-falsos de um intelectualismo enciclopédico que ele mesmo definiu, certa vez, ao qualificar o poeta norte-americano Ezra Pound como “rei da orelhada brilhante”. As referências de Francis abrangem um universo cultural tão vasto que nos surpreendemos, ao deparar com uma frase brilhante como “Sabemos de tudo e não há perdão”, perguntando se é de sua autoria ou “batoteada”, como ele gostava de dizer.
O estilo de Francis é atropelado e entremeia, do modo mais esnobe, citações as mais diversas numa espécie de “metralha intelectual” — mais uma vez suas palavras podem ser recicladas a propósito dele mesmo. Incorpora recursos elaborados pela prosa moderna desde o Futurismo, mas abusa das frases assindéticas e das assimetrias lógicas. Parece, muitas vezes, confundir vanguarda com desleixo e autocomplacência. O romance exemplifica bem o impasse da ficção realista sob a ditadura militar, indecisa entre recuperar as conquistas da narrativa moderna e mimetizar, de modo direto e impuro, a sensação de caos vivida pelo que restou da inteligência brasileira após o AI-5. Macunaíma (1928), de Mário de Andrade, exibira os andaimes da construção de uma identidade brasileira; Cabeça de papel mostra as ruínas de um país que deu errado.
A fatura especificamente ficcional do romance, por sua vez, deixa muito a desejar. Principalmente, falta um pouco mais de teatro, personagens agindo e falando. A fala do autor, via narradores, satura o livro de conteúdo opiniático, transforma as criaturas do escritor em veículos de seu narcisismo sem limites. Quando aparece um pouco do teatro que faltava, no desfecho, o diálogo é excessivamente didático, artificial, como também é o arremate do relato, em que um acidente de carro dá fim a duas personagens com as quais o autor, aparentemente, não sabia o que fazer.
Mas, então, por que estamos falando de Cabeça de papel? Não é um livro para ser esquecido às traças?
É que existem as compensações, e muitas. O valente leitor que atravessa a leitura recebe, como prêmio, sacadas brilhantes como a constatação, de tantas implicações atualíssimas, de que os filhos da classe média carioca imitavam a linguagem e a atitude existencial dos marginais, “fenômeno psicossocial inexplicado no momento, mas não convém subestimar as manhas da Albânia”. (A ironia de Francis é por vezes tão fina que passará despercebida a muita gente que não saiba, por exemplo,o que a Albânia significava em meados dos anos 1970.)
Melhor ainda é quando, num único parágrafo, Paulo Francis menciona dados da economia americana durante a Grande Depressão para encadear um comentário sobre a maneira como Tolstói inicia Ana Karenina, o qual por sua vez deságua numa brilhante e sintética análise da indústria do cinema em seus primórdios. Há ainda a perfeita definição — bem freudiana, diga-se — do humor, chamado pelo apelido de “sarcasmo”, como “reação intelectual ao irracionalismo dos arranjos humanos”. Pepitas desse tipo são muito encontradiças em meio à cascalheira do estilo de Paulo Francis.
O jornalista carioca, que morreu de desgosto por ter sido arruinado economicamente numa ação perdida na justiça americana — é favor nem pensar na comparação… —, seria impossível na imprensa brasileira de hoje. Não só ele, como outros monstros sagrados do jornalismo no final do século XX. Do ponto de vista da inteligência e da estética, era bem melhor um país onde havia espaço para Francis, Millôr Fernandes e Tarso de Castro. Hoje pouco mais restou, daquele tempo, do que Fernando Gabeira fazendo reportagens bem comportadas para a desorientada Globo News, que é contra o preto, detesta o branco e não suporta o cinza. Cabeça de papel, com todos os seus defeitos, é uma lembrança daquele país que se perdeu.
Onde encontrar:
Estante Virtual