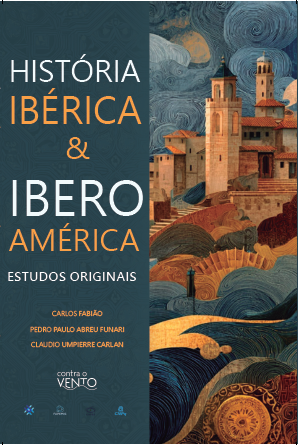O título de Banguê (1934), que no futuro será fatalmente pronunciado errado pela maioria das pessoas, graças à estupidíssima extinção do trema em nossa mais recente reforma ortográfica, também desfiguradora de belas palavras devido à bagunça que fez com o hífen, não deve atrair muitos leitores para o livro de José Lins do Rego. Afinal, além de não saber pronunciá-la, pouca gente sabe o que a palavra designa: um engenho de açúcar ainda movido por caldeiras a vapor, coisa do século XIX que ainda existia no Brasil sem eletricidade.
 Nesse sentido, embora muito adequado ao tema nele tratado, o título é injusto com um dos melhores romances daquela época da ficção brasileira que contou com autores do calibre de Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz e Erico Verissimo. Banguê é narrado de maneira primorosa pelo mesmo protagonista de Menino de engenho (1932) e Doidinho (1933), Carlos de Melo, neto do poderoso Coronel José Paulino, senhor de engenho mitificado nessa primeira sequência do chamado “ciclo da cana-de-açúcar”, que seria completado por Usina (1936) e Fogo morto (1943).
Nesse sentido, embora muito adequado ao tema nele tratado, o título é injusto com um dos melhores romances daquela época da ficção brasileira que contou com autores do calibre de Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz e Erico Verissimo. Banguê é narrado de maneira primorosa pelo mesmo protagonista de Menino de engenho (1932) e Doidinho (1933), Carlos de Melo, neto do poderoso Coronel José Paulino, senhor de engenho mitificado nessa primeira sequência do chamado “ciclo da cana-de-açúcar”, que seria completado por Usina (1936) e Fogo morto (1943).
O estilo da narração é aquela fluência invejável de Zé Lins. Os fatos, ao contrário, são bastante deprimentes; em sua psicologia, Carlos de Melo introjeta e concentra todo um processo social perverso, a economia canavieira do Nordeste em sua decadência. Carlos, ao contrário de seu lendário avô, é um fraco. Sua vida no bangué é uma resposta melancólica ao que o velho José Paulino lhe diz quando, no primeiro capítulo, ele retorna da faculdade de Direito: “Vamos ver para o que dá o senhor.” Nessa frase estão implícitas duas possibilidades: ou Carlos seria um bom advogado ou sucederia ao avô no governo do engenho Santa Rosa, uma invejável extensão de terras à beira do rio Paraíba, no Estado do mesmo nome, que mais tarde o narrador vai chamar de “minhas duas léguas de terra”. Isso mesmo, um latifúndio cuja travessia podia somar 12 quilômetros.
O fato de Carlos mentir às esperanças do avô, não dando para nada, é tanto mais melancólico quanto, já em seu retorno ao Santa Rosa, ele constata a decadência física e mental do velho. A insistência nesse tema, nos primeiros capítulos do romance, pode fazer parecer que ele será monótono. Mas o sortilégio narrativo de Zé Lins logo começa a dispersar pelo discurso de seu personagem múltiplos dados de um panorama social. Como já fizera em Menino de engenho, o escritor faz comparecer a suas páginas toda uma sociedade regional, revelando a conta-gotas seu modo de funcionamento econômico e a psicologia dos donos da terra e de seus “súditos”. A isso se some a aparição de Maria Alice, mulher de um primo, cujo nome dá título à segunda parte de Banguê.
A moça chega para passar uma temporada no engenho e, com seus encantos, redime a vida ociosa e sem sentido de Carlos. Ele tem um caso com a prima; as páginas que dão conta do malogro desse amor adúltero estão entre as mais intensas do livro. Com a devolução da moça a seu marido, o rapaz novamente cai na antiga prostração, que parece ter algo daquele componente mórbido que havia levado seu pai ao desvario assassino em Menino de engenho, deixando o garoto Carlos sem mãe e aos cuidados das tias e das negras que enxameavam por aquela casa senhorial ainda marcada pelo regime de trabalho servil.
Carlos, porém, acaba resolvendo tomar as rédeas do engenho, e até chega a mostrar alguma validez nisso. Mas sucumbe à competência de um rival, José Marreiro, cujas manhas o obrigam a se endividar grandemente com a usina São Félix, cujos donos cobiçavam as terras vastas e fertilíssimas do Santa Fé. A terceira parte do livro consiste nisso; morto o Coronel José Paulino, seu neto e herdeiro examina obsessivamente a própria fraqueza e antevê um desfecho humilhante, no qual teria que ganhar o próprio sustento por meio do trabalho assalariado. O “milagre” que o salva disso encerra a narrativa, mas tem efeito duvidoso: para o leitor, fica a suspeita de que o “sinhozinho” botará fora o gordo saldo que ainda consegue tirar de sua incompetência econômica e psicológica.
O protagonista de Banguê, bem feitas as contas, é uma espécie de Paulo Honório às avessas. A vida do narrador de São Bernardo, de Graciliano Ramos (por sinal, publicado no mesmo ano), dá errado por excesso de aptidão para o capitalismo do latifúndio. A de Carlos de Melo, exatamente por não ter, em sua condição de neto mimado de um senhor de engenho, conseguido aguçar seus caninos para a predação, fracasso que o leva a sucumbir a uma “melancolia de eunuco”.